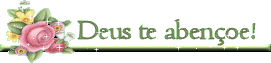Definição
da palavra barroco
A
palavra “barroco” tem sua origem controvertida. Enquanto alguns afirmam que
está ligada a um processo relativo à memória que indicava um silogismo
aristotélico de conclusão falsa, outros defendem que designaria um tipo de
pérola de forma irregular, ou mesmo um terreno desigual, assimétrico.
Padre
Antônio Vieira
Ninguém angariou tantas críticas e inimizades quanto o
"impiedoso" Padre Antônio Vieira, detentor de um invejável volume de
obras literárias, inquietantes para os padrões da época.
Politicamente, Vieira tinha contra si a pequena burguesia cristã
(por defender o capitalismo judaico e os cristãos-novos); os pequenos
comerciantes (por defender o monopólio comercial) e os administradores e
colonos (por defender os índios). Essas posições, principalmente a defesa dos
cristãos-novos, custaram a Vieira uma condenação da Inquisição, ficando preso
de 1665 a 1667. A obra do Padre Antônio Vieira pode ser dividida em três tipos
de trabalhos: Profecias, Cartas e Sermões.
As Profecias constam de três obras: História do Futuro,
Esperanças de Portugal e Clavis Prophetarum. Nelas se notam o sebastianismo e
as esperanças de que Portugal se tornaria o "quinto império do
Mundo". Segundo ele, tal fato estaria escrito na Bíblia. Aqui ele
demonstra bem seu estilo alegórico de interpretação bíblica (uma característica
quase que constante de religiosos brasileiros íntimos da literatura barroca).
Além, é claro, de revelar um nacionalismo megalomaníaco e servidão incomum.
O grosso da produção literária do Padre Antônio Vieira está
nas cerca de 500 cartas. Elas versam sobre o relacionamento entre Portugal e
Holanda, sobre a Inquisição e os cristãos novos e sobre a situação da colônia,
transformando-se em importantes documentos históricos.
O melhor de sua obra, no
entanto, está nos 200 sermões. De estilo barroco conceptista, totalmente oposto
ao Gongorismo, o pregador português joga com as idéias e os conceitos, segundo
os ensinamentos de retórica dos jesuítas. Um dos seus principais trabalhos é o
Sermão da Sexagésima, pregado na capela Real de Lisboa, em 1655. A obra também
ficou conhecida como "A palavra de Deus". Polêmico, este sermão
resume a arte de pregar. Com ele, Vieira procurou atingir seus adversários
católicos, os gongóricos dominicanos, analisando no sermão "Porque não
frutificava a Palavra de Deus na terra", atribuindo-lhes culpa.
Gregório
de Matos Guerra
Uma das principais referências do
barroco brasileiro é Gregório de Matos Guerra, poeta baiano que cultivou com a
mesma beleza tanto o estilo cultista quanto o conceptista .
Na poesia lírica e religiosa,
Gregório de Matos deixa claro certo idealismo renascentista, colocado ao lado
do conflito (como de hábito na época) entre o pecado e o perdão, buscando a
pureza da fé, mas tendo ao mesmo tempo necessidade de viver a vida mundana.
Contradição que o situava com perfeição na escola barroca do Brasil. É patente
do movimento nativista quando ele separa o que é brasileiro do que é exploração
lusitana.
Carpe Diem
O tema central do Barroco se encontra na antítese entre a vida e a
morte. Daí decorre o sentimento da brevidade da vida, da angústia da passagem
do tempo, que tudo destrói. Diante disso, o homem barroco oscila entre a
renuncia e o gozo dos prazeres da vida. Quando
pensa no julgamento de Deus, foge dos prazeres e procura apoio na fé. Quando a
fé é insuficiente, a atração dos prazeres o envolve e cresce o desejo de
desfrutar da vida. Por isso, o Carpe
Diem, expressão latina que significa “aproveita o dia (presente)”, é um dos
temas freqüentes da arte barroca. A mocidade ou a juventude é freqüentemente
comparada à flor que é bonita por pouco tempo e logo morre. Daí o apelo dos
poetas barrocos.
O Carpe Diem é um tema que vinha já da Antiguidade, mas no Barroco foi desenvolvido
de forma angustiada, pois era uma tentativa de fundir os opostos, de conciliar
o que, no fundo, é inconciliável: a razão e a fé, a matéria e o espírito, a
vida carnal e a vida espiritual.
Barroco X Renascimento
O
homem do período renascentista acreditava que a cultura mais perfeita era a
cultura desenvolvida em meio ao paganismo. Acreditava que a arte, a ciência e a
erudição tinham florescido durante o período clássico, Grécia e Roma, e na
capacidade de ação do homem, na sua atuação como ser dono do Universo e capaz
de modificar tudo à sua volta. Na literatura eram imitados os textos da
antiguidade Clássica. Já o homem do período barroco estava dividido entre
a religião e o paganismo, entre a verdade e a mentira, o amor e a solidão, o pecado
e o perdão. As poesias são rebuscadas e utilizam o jogo de idéias, são
assimétricas e apresentam antíteses, reflexo do conflito em que o homem barroco
vivia
Literatura
Barroca
Literatura
barroca é uma área da literatura ocidental, produzida sobretudo no séc XVII,
teve a sua compreensão e interpretação crítica extraordinariamente aprofundada
e esclarecida graças à introdução no uso crítico e historiográfico do conceito
de barroco literário. O termo veio das artes plásticas e visuais, com um
sentido pejorativo, designando a arte do período subseqüente ao Renascimento, que era interpretada como
uma forma degenerada dessa arte, pela perda da clareza, pureza, equilíbrio, em
troca do exagero ornamental e das distorções. Originalmente tal como era
corrente nos séculos X.VI e XVII barroco significava arte bizarra, artificial.
A etimologia do termo é controvertida. Designando pérola de superfície irregular, teria sido usada por espanhóis e
portugueses (barrueco e barroco). Por outro lado, a palavra fora usada
pela escolástica medieval, como termo mnemônico do silogismo e assim aparece em
Montaigne com intenção irônica, pois então queria dizer raciocínio estranho,
vicioso, confundindo o falso e o verdadeiro. Até o século XIX, permaneceu este o significado:
argumentação barroco; imagem barroca;
figura barroca.
A
revisão da questão se deve a Jacob
Burckhardt, no Cicerone (1855). Mas a sua reformulação definitiva
para a história da arte, e depois para a crítica literária, foi empreendida por
Heinrich Wolffin (1864-1945) desde 1879
ao reabilitar a arte barroca, mostrando-a como uma forma peculiar, com valor
estético e significado próprios. Estabeleceu Wolfflin a teoria da análise
formal das artes, pela qual a passagem de um tipo de arte para outro se
processaria segundo princípios internos. Assim, à arte renascentista
sucedeu a barroca, não como um declínio,
porém como o desenvolvimento natural para um estilo posterior, que já não é
táctil, porém visual, não é linear, porém pictórico, não é composto em plano
mas em profundidade, nem em partes coordenadas mas subordinadas a um conjunto,
não é fechado mas aberto, não tem claridade absoluta mas relativa. Tal teoria
da definição dos estilos artísticos, à luz dessas categorias, foi aplicada à
análise da literatura, nas obras que exprimiram a oposição entre o Renascimento
e o barroco, como o Orlando Furioso de Ariosto e a Jerusalém
Libertada do Tasso. De 19l4 em diante o termo foi absorvido pela crítica
literária, e se ampliaram os estudos interpretativos da literatura seiscentista.
As velhas denominações , “seiscentismo” , “gongorismo” “eufuísmo”, “marinismo”,
“conceptismo”, “culteranismo”, “cultismo”, “preciosismo”, de sentido
pejorativo, passaram a ser compreendidas como referindo-se a formas imperfeitas
ou não desenvolvidas do barroco e são hoje melhor englobadas sob o rótulo de
barroco.
Assim,
o barroco é o estilo artístico e literário, e mesmo o estilo de vida, que
encheu o período entre o final do século XVI e o século XVIII, em todos os
povos do Ocidente, com variantes locais de tempo e fisionomia artística, embora
com unidade de características estéticas e estilísticas. Mas, ao lado do
elemento formal peculiar, o barroco é ligado a uma ideologia, que lhe empresta
unidade espiritual, e essa ideologia foi fornecida pela Contra-Reforma.O
barroco foi o estilo, a arte de atributos morfológicos adequados á expressão do
conceito da vida dinamizado pela
Contra-Reforma em reação ao Renascimento, e de modo a traduzir--se em todas as
manifestações artísticas, a16m ao vestuário, da jardinagem, das festas.A
ideologia tridentina comunicou à época e à arte uma fisionomia trágica ,
dilacerada entre os pólos celeste e
terrestre, entre a carne e o espírito, procurando incutir no homem o horror do
mundo, o medo da morte, o pavor do inferno, conquistando-o para o céu pela
captação de imaginação e seus sentidos,
para o que usa o ornamental e o espetacular. O homem barroco é contraditório,
em estado de conflito, saudoso do paraíso e ao mesmo tempo seduzido pelo mundo
e pela carne. A literatura barroca, destarte, apresenta caracteres típicos:o
fusionismo (união dos detalhes num todo orgânico), o claro-escuro, o eco, a
união do racional e do irracional (expressa nas figuras estilísticas paradoxo),
a ambigüidade, o caráter grandioso e ornamental (expresso no exagero de figuras
estilísticas), figuras de estilo que traduzem o estado de conflito e tensão
espiritual (antíteses, paradoxos, contorções, hipérboles, etc) ; o uso dos concetti,
wit, agudeza, do tipo de estilo conhecido como genus humile, de
forma; epigramática, sentenciosa, breve. É um estilo chamado filosófico, de pensamento, mais para ser lido
do que ouvido, oposto ao estilo ciceroniano, redondo, oratório. A literatura
barroca inclui grandes nomes do seiscentismo: Góngora, Quevedo, Cervantes,
Calderón, Lope de Vega, Gracián, Tasso, Marino, Donne, Crashaw, Shakespeare,
Montaigne, Pascal, Antônio Vieira, Rodrigues Lobo, Gregório de Matos, Soror
Juana de la Cruz e muitos outros.
Conjunção
Conjunção coordenativa e
subordinativa
1. Examinemos os seguintes provérbios:
O mal e o bem à face vêm.
Deseja o melhor e espera o pior.
Só dura a mentira enquanto a verdade não chega.
No primeiro, encontramos a palavra e, que está ligando dois termos de uma oração: o mal e o bem.
No segundo, vemos a mesma palavra e, que está ligando duas orações de sentido completo e independente: Deseja o melhor. Espera o pior.
No terceiro, aparece a palavra enquanto unindo duas orações que não podem ser separadas sem que fique alterado o sentido que expressam, pois a segunda depende da afirmação contida da primeira.
Os vocábulos invariáveis que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração chamam-se CONJUNÇÕES.
As conjunções que relacionam termos ou orações de idêntica função gramatical têm o nome de COORDENATIVAS.
Denominam-se SUBORDINATIVAS as que ligam duas orações, uma das quais determina ou completa o sentido da outra.
2. Percebe-se facilmente a diferença entre as conjunções coordenativas e as subordinativas quando comparamos construções de orações a construções de nomes.
Assim, nestes enunciados:
Ler e escrever. A leitura e a escrita.
Ler ou escrever. A leitura ou a escrita.
Vemos que a conjunção coordenativa não se altera com a mudança de construção, pois liga elementos independentes, estabelecendo entre eles relações de adição, no primeiro caso, e de igualdade ou de alternância, no segundo.
Já nos enunciados seguintes:
Quando tiver lido o livro, escreva a carta.
Após a leitura, a escrita.
Observamos a dependência do primeiro termo ao segundo.
No último exemplo, em lugar da conjunção subordinativa (quando), temos uma preposição (após), que está indicando a dependência de um elemento a outro.
Conjunções coordenativas
1. Classificação
Classificam-se as conjunções coordenativas em ADITIVAS, ADVERSATIVAS, ALTERNATIVAS, CONCLUSIVAS e EXPLICATIVAS.
a) ADITIVAS, que servem para ligar simplesmente dois termos ou duas orações de idêntica função: e, nem [= e não]
Tinha saúde e robustez.
Pulei do banco e gritei de alegria.
Não é gulodice nem interesse mesquinho.
b) ADVERSATIVAS, que ligam dois termos ou duas orações de igual função, acrescentando-lhes, porém, uma idéia de contraste:mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto.
Seu quarto é pobre, mas nada lhe falta.
Cada uma delas doía-me intensamente; contudo não me indignavam.
c) ALTERNATIVAS, que ligam dois termos ou orações de sentido distinto, indicando que, ao cumprir-se um fato, o outro não se cumpre: ou...ou, ora...ora, quer...quer, seja...seja, nem...nem, já...já, etc.
Para arremedar gente ou bicho, era um gênio.
Ou eu me retiro ou tu te afastas.
d) CONCLUSIVAS, que servem para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão, conseqüência: logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, então.
Não pacteia com a ordem; é, pois, um rebelde.
Ouço música, logo ainda não me enterraram.
e) EXPLICATIVAS, que ligam duas orações, a segunda das quais justifica a idéia contida na primeira: que, porque, pois, porquanto.
Dorme, que eu penso.
2. Posição das conjunções coordenativas
Nem todas as CONJUNÇÕES COORDENATIVAS encabeçam a oração que delas recebe o nome. Assim:
1. Das CONJUNÇÕES COORDENATIVAS apenas mas aparece obrigatoriamente no começo da oração; contudo, entretanto, no entanto, porém e todavia podem vir no início da oração, ou após um de seus termos. Sirvam de exemplo estes períodos:
Tentou subir, mas não conseguiu.
Tentou subir, porém não conseguiu.
Tentou subir; não conseguiu, porém.
2. Pois, quando CONJUNÇÕES CONCLUSIVA, vem sempre posposta a um termo da oração a que pertence:
Era, pois, um homem de grande caráter e foi, pois, também um grande estilista. (J. RIBEIRO)
3. As conclusivas logo, portanto e por conseguinte podem variar de posição, conforme o ritmo, a entoação, a harmonia da frase.
Conjunções subordinativas
1. Classificação
As conjunções subordinativas classificam-se em CAUSAIS, CONCESSIVAS, CONDICIONAIS, CONFORMATIVAS, COMPARATIVAS, CONSECUTIVAS, FINAIS, PROPORCIONAIS, TEMPORAIS, e INTEGRANTES.
As causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas e consecutivas iniciam ORAÇÕES ADVERBIAIS. As integrantes introduzem ORAÇÕES SUBSTANTIVAS.
Exemplifiquemos:
a) CAUSAIS (iniciam uma oração subordinada denotadora de causa). porque, pois, porquanto, como [= porque], pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como, que, etc.
Dona Luísa fora para lá porque estava só.
Como o calor estivesse forte, pusemo-nos a andar pelo Passeio Público.
b) COMPARATIVAS (iniciam uma oração que encerra o segundo membro de uma comparação, de um confronto): que, do que (depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior) qual (depois de tal), quanto (depois de tanto), como, assim como, bem como, como se, que nem.
Era mais alta que baixa.
Nesse instante, Pedro se levantou como se tivesse levado uma chicotada.
c) CONCESSIVAS (iniciam uma oração subordinada em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la). embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, que, etc.
Pouco demorei, conquanto muitos fossem os agrados.
É todo graça, embora as pernas não ajudem...
d) CONDICIONAIS (iniciam uma oração subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal): se, caso, quando, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc.
Seria mais poeta, se fosse menos político.
Consultava-se, receosa de revelar sua comoção, caso se levantasse.
e) CONFORMATIVAS (iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal):conforme, como [= conforme], segundo, consoante, etc.:
Cristo nasceu para todos, cada qual como o merece...
Tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no Memorial.
f) CONSECUTIVAS (iniciam uma oração na qual se indica a conseqüência do que foi declarado na anterior): que (combinada com uma das palavras tal, tanto, tão ou tamanho, presentes ou latentes na oração anterior), de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que.
Soube que tivera uma emoção tão grande que Deus quase a levou.
g) FINAIS (iniciam uma oração subordinada que indica a finalidade da oração principal): para que, a fim de que, porque [= para que], que
Aqui vai o livro para que o leias.
Fiz-lhe sinal que se calasse...
h) PROPORCIONAIS (iniciam uma oração subordinada em que se menciona um fato realizado ou para realizar-se simultaneamente com o da oração principal): à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais... (mais), quanto mais... (tanto mais), quanto mais... (menos), quanto mais... (tanto menos), quanto menos... (menos), quanto menos... (tanto menos), quanto menos... (mais), quanto menos... (tanto mais)
Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares.
Tudo isso vou escrevendo enquanto entramos no Ano Novo.
i) TEMPORAIS (iniciam uma oração subordinada indicadora de circunstância de tempo): quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= desde que], etc.:
Custas a vir e, quando vens, não te demoras.
Implicou comigo assim que me viu.
j) INTEGRANTES (servem para introduzir uma oração que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto de outra oração): que e se
Quando o verbo exprime uma certeza, usa-se que; quando incerteza, se:
Afirmo que sou estudante.
Não sei se existe ou se dói.
2. Polissemia conjuncional
Como vimos, algumas conjunções subordinativas (que, se, como, porque, etc) podem pertencer a mais de uma classe. Em verdade, o valor desses vocábulos gramaticais está condicionado ao contexto em que se inserem, nem sempre isento de ambigüidade, pois que há circunstâncias fronteiriças: a condição da concessão, o fim da conseqüência, etc.
Locução conjuntiva
A par das conjunções simples, há numerosas outras formadas da partícula que antecedida de advérbios, de preposições e de particípios. São chamadas LOCUÇÕES CONJUNTIVAS: antes que, desde que, já que, até que, para que, sem que, dado que, posto que, visto que, uma vez que, à medida que.
1. Examinemos os seguintes provérbios:
O mal e o bem à face vêm.
Deseja o melhor e espera o pior.
Só dura a mentira enquanto a verdade não chega.
No primeiro, encontramos a palavra e, que está ligando dois termos de uma oração: o mal e o bem.
No segundo, vemos a mesma palavra e, que está ligando duas orações de sentido completo e independente: Deseja o melhor. Espera o pior.
No terceiro, aparece a palavra enquanto unindo duas orações que não podem ser separadas sem que fique alterado o sentido que expressam, pois a segunda depende da afirmação contida da primeira.
Os vocábulos invariáveis que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração chamam-se CONJUNÇÕES.
As conjunções que relacionam termos ou orações de idêntica função gramatical têm o nome de COORDENATIVAS.
Denominam-se SUBORDINATIVAS as que ligam duas orações, uma das quais determina ou completa o sentido da outra.
2. Percebe-se facilmente a diferença entre as conjunções coordenativas e as subordinativas quando comparamos construções de orações a construções de nomes.
Assim, nestes enunciados:
Ler e escrever. A leitura e a escrita.
Ler ou escrever. A leitura ou a escrita.
Vemos que a conjunção coordenativa não se altera com a mudança de construção, pois liga elementos independentes, estabelecendo entre eles relações de adição, no primeiro caso, e de igualdade ou de alternância, no segundo.
Já nos enunciados seguintes:
Quando tiver lido o livro, escreva a carta.
Após a leitura, a escrita.
Observamos a dependência do primeiro termo ao segundo.
No último exemplo, em lugar da conjunção subordinativa (quando), temos uma preposição (após), que está indicando a dependência de um elemento a outro.
Conjunções coordenativas
1. Classificação
Classificam-se as conjunções coordenativas em ADITIVAS, ADVERSATIVAS, ALTERNATIVAS, CONCLUSIVAS e EXPLICATIVAS.
a) ADITIVAS, que servem para ligar simplesmente dois termos ou duas orações de idêntica função: e, nem [= e não]
Tinha saúde e robustez.
Pulei do banco e gritei de alegria.
Não é gulodice nem interesse mesquinho.
b) ADVERSATIVAS, que ligam dois termos ou duas orações de igual função, acrescentando-lhes, porém, uma idéia de contraste:mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto.
Seu quarto é pobre, mas nada lhe falta.
Cada uma delas doía-me intensamente; contudo não me indignavam.
c) ALTERNATIVAS, que ligam dois termos ou orações de sentido distinto, indicando que, ao cumprir-se um fato, o outro não se cumpre: ou...ou, ora...ora, quer...quer, seja...seja, nem...nem, já...já, etc.
Para arremedar gente ou bicho, era um gênio.
Ou eu me retiro ou tu te afastas.
d) CONCLUSIVAS, que servem para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão, conseqüência: logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, então.
Não pacteia com a ordem; é, pois, um rebelde.
Ouço música, logo ainda não me enterraram.
e) EXPLICATIVAS, que ligam duas orações, a segunda das quais justifica a idéia contida na primeira: que, porque, pois, porquanto.
Dorme, que eu penso.
2. Posição das conjunções coordenativas
Nem todas as CONJUNÇÕES COORDENATIVAS encabeçam a oração que delas recebe o nome. Assim:
1. Das CONJUNÇÕES COORDENATIVAS apenas mas aparece obrigatoriamente no começo da oração; contudo, entretanto, no entanto, porém e todavia podem vir no início da oração, ou após um de seus termos. Sirvam de exemplo estes períodos:
Tentou subir, mas não conseguiu.
Tentou subir, porém não conseguiu.
Tentou subir; não conseguiu, porém.
2. Pois, quando CONJUNÇÕES CONCLUSIVA, vem sempre posposta a um termo da oração a que pertence:
Era, pois, um homem de grande caráter e foi, pois, também um grande estilista. (J. RIBEIRO)
3. As conclusivas logo, portanto e por conseguinte podem variar de posição, conforme o ritmo, a entoação, a harmonia da frase.
Conjunções subordinativas
1. Classificação
As conjunções subordinativas classificam-se em CAUSAIS, CONCESSIVAS, CONDICIONAIS, CONFORMATIVAS, COMPARATIVAS, CONSECUTIVAS, FINAIS, PROPORCIONAIS, TEMPORAIS, e INTEGRANTES.
As causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas e consecutivas iniciam ORAÇÕES ADVERBIAIS. As integrantes introduzem ORAÇÕES SUBSTANTIVAS.
Exemplifiquemos:
a) CAUSAIS (iniciam uma oração subordinada denotadora de causa). porque, pois, porquanto, como [= porque], pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como, que, etc.
Dona Luísa fora para lá porque estava só.
Como o calor estivesse forte, pusemo-nos a andar pelo Passeio Público.
b) COMPARATIVAS (iniciam uma oração que encerra o segundo membro de uma comparação, de um confronto): que, do que (depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior) qual (depois de tal), quanto (depois de tanto), como, assim como, bem como, como se, que nem.
Era mais alta que baixa.
Nesse instante, Pedro se levantou como se tivesse levado uma chicotada.
c) CONCESSIVAS (iniciam uma oração subordinada em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la). embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, que, etc.
Pouco demorei, conquanto muitos fossem os agrados.
É todo graça, embora as pernas não ajudem...
d) CONDICIONAIS (iniciam uma oração subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal): se, caso, quando, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc.
Seria mais poeta, se fosse menos político.
Consultava-se, receosa de revelar sua comoção, caso se levantasse.
e) CONFORMATIVAS (iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal):conforme, como [= conforme], segundo, consoante, etc.:
Cristo nasceu para todos, cada qual como o merece...
Tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no Memorial.
f) CONSECUTIVAS (iniciam uma oração na qual se indica a conseqüência do que foi declarado na anterior): que (combinada com uma das palavras tal, tanto, tão ou tamanho, presentes ou latentes na oração anterior), de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que.
Soube que tivera uma emoção tão grande que Deus quase a levou.
g) FINAIS (iniciam uma oração subordinada que indica a finalidade da oração principal): para que, a fim de que, porque [= para que], que
Aqui vai o livro para que o leias.
Fiz-lhe sinal que se calasse...
h) PROPORCIONAIS (iniciam uma oração subordinada em que se menciona um fato realizado ou para realizar-se simultaneamente com o da oração principal): à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais... (mais), quanto mais... (tanto mais), quanto mais... (menos), quanto mais... (tanto menos), quanto menos... (menos), quanto menos... (tanto menos), quanto menos... (mais), quanto menos... (tanto mais)
Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares.
Tudo isso vou escrevendo enquanto entramos no Ano Novo.
i) TEMPORAIS (iniciam uma oração subordinada indicadora de circunstância de tempo): quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= desde que], etc.:
Custas a vir e, quando vens, não te demoras.
Implicou comigo assim que me viu.
j) INTEGRANTES (servem para introduzir uma oração que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto de outra oração): que e se
Quando o verbo exprime uma certeza, usa-se que; quando incerteza, se:
Afirmo que sou estudante.
Não sei se existe ou se dói.
2. Polissemia conjuncional
Como vimos, algumas conjunções subordinativas (que, se, como, porque, etc) podem pertencer a mais de uma classe. Em verdade, o valor desses vocábulos gramaticais está condicionado ao contexto em que se inserem, nem sempre isento de ambigüidade, pois que há circunstâncias fronteiriças: a condição da concessão, o fim da conseqüência, etc.
Locução conjuntiva
A par das conjunções simples, há numerosas outras formadas da partícula que antecedida de advérbios, de preposições e de particípios. São chamadas LOCUÇÕES CONJUNTIVAS: antes que, desde que, já que, até que, para que, sem que, dado que, posto que, visto que, uma vez que, à medida que.
Crase
·
A crase é um acento
gráfico?
Não. A crase não
é um acento gráfico. Palavra que em gre-
go significa fusão, ou união, de duas
vogais iguais e contíguas. Ao falarmos, é normal acontecerem crases:
Estava aberto o caminho.
Em casos como o do exemplo acima não se
registra o sinal gráfico da crase. É que na Língua Portuguesa só se assinalam
as crases da preposição a com o artigo a/as; com os pronomes
demonstrativos a/as e com a vogal inicial dos pronomes demonstrativos – aquele,
aquela, aquilo.
O sinal gráfico que marca a crase (`)
chama-se acento grave.
1.
Crase de preposição a + artigo a/as
A regra geral determina que ocorrerá
crase:
·
Se o termo regente exigir
a preposição a: chegar a, contrário a.
·
Se o termo regido aceitar
o artigo a/as: a escola, a idéia.
Cheguei à escola.
Sou contrário à idéia de trabalhar em
casa.
Mas,
se ocorrerem essas duas condições, não haverá crase:
Conheço a escola.
No
exemplo acima não ocorre a crase porque falta a primeira condição: o termo
regente não exige preposição.
Cheguei a Curitiba.
No
caso acima, não ocorre a crase porque falta a segunda condição, ou seja, o
termo regido não aceita artigo.
2.
Dicas
Há
duas dicas simples que ajudam a saber quando ocorre crase:
·
Substituir a palavra feminina
por outra masculina. Se ocorrer a forma ao é sinal de que a crase:
Fui a sala (?). Fui ao salão
Portanto,
o correto é: Fui à sala.
Estavam frente a frente
(?). Estavam lado a
lado.
Portanto,
o correto é: Estavam frente a frente.
·
Substituir a preposição a
por outras, tais como para, de, em. Se o artigo aparecer é
sinal de que ocorreu crase:
Fui a Itália (?). Fui para a Itália.
Portanto,
o correto é: Fui à Itália.
Fui a Cuba
(?). Fui para Cuba.
No
exemplo acima o artigo não aparece. Portanto, o correto é: Fui a Cuba.
3.
Casos facultativos
Pode
ou não ocorrer crase:
·
Antes de nomes próprios
femininos:
Referiu-se à Luísa ou Referiu-se a
Luísa
·
Antes de pronomes possessivos
femininos:
Referiu-se a tua mãe ou Referiu-se à tua
mãe
Atenção: nesses e em outros casos
semelhantes, as dúvidas também podem ser resolvidas pelas mesmas dicas
explicadas no item 2.
4. Crase antes de pronomes
·
Antes dos pronomes a que,
a qual
Ocorre crase se o masculino correspondente for ao que,
ao qual
Esta cerveja é superior à que você
comprou.
Este vinho é superior ao que você
comprou.
Esta é a decisão à qual chegamos.
Este é o ponto ao qual chegamos.
·
Antes dos pronomes aquele(s),
aquela(s), aquilo.
Ocorre crase sempre que o termo regente exigir preposição a:
Fui
àquele comício.
Sou
avesso àquela idéia.
5.
Expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas
Sempre
ocorre crase nestas expressões: às duas horas; à tarde; à direita; à esquerda;
às vezes; às pressas; à frente de; à medida que...
Atenção:
além dos casos acima, algumas expressões recebem o
acento grave, mesmo que não haja a união de duas vogais, ou não ocorra a crase.
Este é um recurso normalmente usado para tornar a frase mais clara:
Cortar à faca / vender à vista / bordar à mão
Centro
Educacional Columbia 2000
Profº.
: Fabiano
Matéria:
Português
Série:
8ª
Data:
22/11/2001
Dedicatória
“Dedicamos
este trabalho aos nossos professores. Aliás, 15/10 foi o dia deles. Que possam
sempre nos ensinar e passar adiante seu conhecimento. Feliz Dia dos
Professores”
Pensamento
“Tudo
na vida passa... a única coisa que fica é a lembrança. Portanto, aproveite ao
máximo e depois recorde!”
Escrita
Método
de comunicação humana realizado por meio de sinais visuais que constituem um
sistema.
Estes
sistemas podem ser incompletos ou completos. Os sistemas incompletos, usados
para anotações, são mecanismos técnicos que registram feitos significativos ou
expressam significações gerais. Incluem a escrita pictográfica, a ideográfica e
a usada por objetos marcados. Nos sistemas incompletos não existe
correspondência entre os signos gráficos e a língua representada, o que os
torna ambíguos.
Um
sistema completo é aquele capaz de expressar, na escrita, tudo quanto formula
oralmente. Caracteriza-se pela correspondência, mais ou menos estável, entre os
sinais gráficos e os elementos da língua que transcreve. Os sistemas completos
classificam-se em ideográficos (também chamados morfemáticos), silábicos e
alfabéticos.
O
sistema ideográfico, denominado ideograma, representa palavras completas. O
sistema silábico utiliza signos que representam sons com os quais se escrevem
as palavras. O sistema alfabético tem mais signos para escrever e cada signo
representa um fonema. Ver também Alfabeto.
O
primeiro escrito conhecido, anterior a 3000 a.C, é atribuído aos sumérios da
Mesopotâmia. Escrito com caracteres ideográficos, propicia uma leitura pouco
precisa. Identifica-se nele o princípio da transferência fonética e é possível
rastrear sua história até averiguar como foi convertido em escrita
ideossilábica. No caso dos egípcios, são conhecidos escritos que remontam a
cerca de cem anos depois e também registram o princípio da transferência
fonética. Ver também Língua egípcia e Hieróglifos.
Outros
sistemas ideossilábicos surgiram mais tarde no Egeu, Anatólia e na Indochina (ver
também Língua
chinesa). Na
última metade do segundo milênio antes de Cristo, os povos semíticos, que
viviam na Síria e na Palestina, adotaram o silabário egípcio (ver também
Línguas
semíticas).
Os gregos basearam-se na escrita dos fenícios e acrescentaram a ela vogais e consoantes, criando a
escrita alfabética em torno de 800 a.C. (Ver também Língua grega).
Alfabeto, palavra que, derivada da língua grega e constituída por alpha
e beta, suas duas primeiras letras, designa a série de sinais escritos
que representam um ou mais sons e que, combinados, formam todas as palavras
possíveis de um idioma.
Os alfabetos
são diferentes dos silabários, pictogramas e ideogramas: em um silabário, cada
sinal representa uma sílaba. No sistema pictográfico, os objetos são
representados por meio de desenhos. Nos ideogramas, os pictogramas são
combinados para representar o que não pode ser desenhado.
Os
primeiros sistemas de escrita foram a escrita cuneiforme dos babilônios e dos assírios, a escrita hieroglífica dos egípcios, os símbolos da escrita chinesa e japonesa e os pictogramas dos maias.
Alfabeto do semítico setentrional
É o
primeiro alfabeto de que se tem notícia e surgiu, entre 1700 a.C. e 1500 a.C., na região que hoje corresponde à
Síria e à Palestina. O alfabeto semítico possui apenas 22 consoantes. Os alfabetos hebraico, árabe e fenício se basearam neste modelo. A
escrita é realizada da direita para a esquerda.
Alfabetos grego e romano
Entre
os anos 1000 e 900 a.C., os gregos adotaram a variante
fenícia do alfabeto semítico. Depois do ano 500 a.C., o grego se difundiu por todo o mundo
mediterrâneo e dele surgiram outras escritas, entre elas, a etrusca e a romana.
Em conseqüência das conquistas romanas e da difusão do latim, este alfabeto se tornou a base de
todas as línguas européias ocidentais.
Alfabeto cirílico
Por
volta do ano 860 d.C., os religiosos gregos, que viviam
em Constantinopla, evangelizaram os eslavos e idealizaram um sistema de escrita
conhecido como alfabeto
cirílico.
Suas variantes são as escritas russa, ucraniana, sérvia e búlgara.
Alfabeto árabe
Também
tem sua origem no semítico e, possivelmente, surgiu no século IV de nossa era.
Foi utilizado nas línguas persa e urdu. É a escrita do mundo islâmico.[1]
Fenícia, antigo nome de uma estreita faixa de terra na costa leste
do mar Mediterrâneo que atualmente constitui parte do Líbano. O território tem
aproximadamente 320 km de comprimento e entre 8 e 25 km de largura.
Os
fenícios, chamados sidônios no Antigo Testamento e fenícios pelo poeta Homero, eram um povo de língua semítica,
ligado aos cananeus da antiga Palestina. Fundaram as
primeiras povoações na costa mediterrânea por volta de 2500 a.C. No começo de sua história
desenvolveram-se sob a influência das culturas suméria e acádia da vizinha Babilônia. Por volta de 1800 a.C., o Egito, que começava a formar um
império no Oriente Próximo, invadiu e controlou a Fenícia, controlando-a até
cerca de 1400 a.C. Por volta de 1100 a.C. os fenícios tornaram-se
independentes do Egito e converteram-se nos melhores comerciantes e marinheiros
do mundo clássico.
A
contribuição fenícia mais importante para a civilização foi o alfabeto.
Atribui-se também a esta cultura a invenção da tinta de púrpura e do vidro. As
cidades fenícias foram famosas por sua religião panteísta e seus templos eram o
centro da vida cívica. A divindade fenícia mais importante era Astarté.
Escrita, Instrumentos de, utensílios manuais utilizados para
efetuar marcas alfanuméricas em ou sobre uma superfície. As inscrições se
caracterizam pela eliminação de parte da superfície, a fim de gravar essas
marcas. O instrumento de escrita é controlado normalmente pelos movimentos de dedos, mão,
pulso e braço da pessoa que escreve.
Instrumentos antigos
A
mais antiga forma de escrita ocidental é a cuneiforme, que se realizava
mediante a pressão de uma vareta de três ou quatro faces sobre barro mole, que
depois era cozido. O avanço importante que se seguiu foi o emprego, pelos
gregos, do pincel, do martelo e do cinzel. No século I d.C., as escritas
duráveis eram realizadas sobre papiro, com uma espécie de bambu afilado e mergulhado em tinta. Os pincéis planos e os bambus de
ponta rômbica eram utilizados para as superfícies polidas e os rebocos ou muros
de pedra, como no esgrafito. As inscrições eram realizadas com
martelo e cinzel.
O
nascimento e a difusão do cristianismo aumentaram a demanda por documentos religiosos
escritos. Os livros em velino (ou pergaminho) vieram substituir os rolos de
papiro e a pena de cálamo suplantou a pena de bambu, transformando-se no
principal instrumento de escrita durante quase 1.300 anos. De igual modo, por
volta do século XVIII, o papel havia substituído o velino como principal superfície de
escrita e começou-se a utilizar o aço para fabricar pontas de caneta. A
primeira pena de aço patenteada foi construída pelo engenheiro inglês Bryan
Donkin, em 1803. A pena de cálamo caiu rapidamente em desuso.
Em
1884, Lewis Waterman, um agente de seguros de Nova York, patenteou a primeira
pena esferográfica com depósito de tinta. Em 1938, Georg Biro inventou uma
tinta viscosa e oleosa que servia para um tipo de caneta dotada de um rolamento
na ponta. A caneta esferográfica apresentava certas vantagens sobre a
caneta-tinteiro: a tinta era impermeável e quase indelével; permitia escrever
sobre superfícies muito diferentes e o instrumento podia ser mantido em
qualquer posição durante a escrita.
Em
1963, apareceu a chamada caneta hidrográfica, com ponta de feltro. Quem a
inventou foi o japonês Yukio Horie, em 1962. As canetas hidrográficas utilizam
tinturas como fluido para escrever.
Um
dos instrumentos mais difundidos para escritas deléveis é o lápis. Os traços do
lápis podem ser apagados com facilidade. O interior do instrumento é formado
por uma mistura de grafita (uma variedade do carbono) e argila. Em 1795, inventou-se uma
fórmula para misturar pó de grafita com argila, cortando o produto resultante
em pequenas barras que depois eram cozidas. Em 1812, William Monroe criou um
processo, empregado até hoje, mediante o qual se podia embutir a mistura
grafita-argila entre dois pedaços de madeira de cedro. A lapiseira, patenteada
em 1877, é formada por um estilete cilíndrico de carga, inserido num cilindro
metálico ou plástico, e empurrado por um êmbolo que, ao girar, vai expulsando a
ponta da carga.
Oração e Período
Período
É a frase organizada em uma ou mais orações.
Pode ser:
Simples - quando constituído de uma só oração:
O casarão todo dormia.
Composto - quando formado de duas ou mais orações:
O senhor sabe, / são moças, / querem divertir-se.
O período termina sempre por uma pausa bem definida, que se marca na escrita com ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e, algumas vezes, com dois pontos.
Termos essenciais da oração
São termos essenciais da oração o SUJEITO e o PREDICADO.
Sujeito - é o ser sobre o qual se faz uma declaração.
Predicado - é tudo aquilo que se diz do SUJEITO.
Assim, na oração:
O galo velho olhou de novo o céu.
temos:
SUJEITO: O galo velho.
PREDICADO: olhou de novo o céu.
1. Tipos de Sujeito:
1.1. Sujeito simples
Quando o sujeito tem apenas um núcleo, isto é, quando o verbo se refere a um só substantivo, ou a um só pronome, ou a um só numeral, ou a uma só palavra substantivada, ou a uma só oração substantiva, o SUJEITO é SIMPLES.
1.2. Sujeito composto
É COMPOSTO o sujeito que tem mais de um núcleo, ou seja, o sujeito constituído de:
a) mais de um substantivo:
Vozes, risos e palmas vieram lá de baixo.
b) mais de um pronome:
E assim galgamos ele e eu o rochedo.
c) mais de uma palavra ou expressão substantivada:
Falam por mim os abandonados de justiça, os simples de coração.
d) mais de um numeral:
Passavam devagar, em fila, seis ou sete.
e) mais de uma oração:
Era melhor esquecer o nó / e pensar numa cama igual à de seu Tomás da bolandeira.
1.3. Sujeito oculto (determinado)
É aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado:
a) pela desinência verbal:
Gosto de chuva, Pedro.
O sujeito de gosto, indicado pela desinência -o, é o pronome eu.
b) pela presença do sujeito em outra oração do mesmo período ou de período contíguo:
O funcionário riu com esforço, e despediu-se enojado. Entrou numa livraria.
O sujeito de riu e despediu-se é o funcionário, mencionado apenas na primeira oração, antes de riu. E é também o sujeito do verbo entrou, pertencente ao período seguinte.
1.4. Sujeito indeterminado
Quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento, diz-se que o SUJEITO é INDETERMINADO. Nestes casos, põe-se o verbo:
a) ou na 3ª pessoa do plural:
Anunciaram que você morreu.
b) ou na 3ª pessoa do singular, com o pronome se:
Não se falava dele no Ateneu.
1.5. Oração sem sujeito
Não deve ser confundido o SUJEITO INDETERMINADO, que existe, mas não se pode ou não se deseja identificar, com a inexistência do sujeito.
Em orações como as seguintes:
Chove. Anoitece. Faz frio.
Interessa-nos o processo verbal em si, pois não o atribuímos a nenhum ser. Diz-se, então, que o verbo é IMPESSOAL; e o SUJEITO, INEXISTENTE.
Principais casos de oração sem sujeito:
a) com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza:
De noite choveu muito.
b) com o verbo haver na acepção de "existir":
Há flores, vidros, luz e sombra na casa das seis mulheres.
c) com os verbos haver, fazer e ir, quando indicam tempo decorrido:
Já estou aqui há dois dias.
d) com o verbo ser, na indicação de tempo em geral:
Era inverno na certa no alto sertão.
2. O predicado
O PREDICADO pode ser NOMINAL, VERBAL ou VERBO-NOMINAL.
2.1. Predicado nominal
O PREDICADO NOMINAL é formado por um VERBO DE LIGAÇÃO + PREDICATIVO DO SUJEITO.
2.1.1. O verbo de ligação
Os VERBOS DE LIGAÇÃO servem para estabelecer a união entre duas palavras ou expressões de caráter nominal. Não trazem propriamente idéia nova ao sujeito; funcionam apenas como elo entre este e o seu predicativo.
Os verbos de ligação podem expressar:
a) estado permanente:
O fato é vulgaríssimo.
b) estado transitório:
Os caboclos estavam desconfiados.
c) mudança de estado:
Fiquei sensibilizadíssimo.
d) continuidade de estado:
O rapaz continua indeciso.
e) aparência de estado:
Os olhos pareciam uma posta de sangue.
2.1.2. O predicativo do sujeito
PREDICATIVO DO SUJEITO é o núcleo do PREDICADO NOMINAL, ou seja, aquilo que se declara do sujeito.
Pode ser representado por:
a) substantivo ou expressão substantivada:
Eras marido e filho?
Não, eu não era o 301.
b) adjetivo ou locução adjetiva:
Ele ficou pasmo, sem palavras.
c) pronome:
Nunca fora nada na vida...
d) numeral:
Duas são as representações elementares do agradável realizado. (R. POMPÉIA)
e) oração:
O pior é que parti os óculos.
2.2. Predicado verbal
O PREDICADO VERBAL tem como núcleo, isto é, como elemento principal da declaração que se faz do sujeito, um VERBO SIGNIFICATIVO.
VERBOS SIGNIFICATIVOS (ou nocionais) são aqueles que trazem uma idéia nova ao sujeito. Podem ser INTRANSITIVOS e TRANSITIVOS.
Observação:
Como há verbos que se empregam ora como de ligação, ora como significativos, convém atentar sempre no valor que apresentam em determinado texto para classificá-los com acerto. Comparem-se, por exemplo, as frases:
É a frase organizada em uma ou mais orações.
Pode ser:
Simples - quando constituído de uma só oração:
O casarão todo dormia.
Composto - quando formado de duas ou mais orações:
O senhor sabe, / são moças, / querem divertir-se.
O período termina sempre por uma pausa bem definida, que se marca na escrita com ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e, algumas vezes, com dois pontos.
Termos essenciais da oração
São termos essenciais da oração o SUJEITO e o PREDICADO.
Sujeito - é o ser sobre o qual se faz uma declaração.
Predicado - é tudo aquilo que se diz do SUJEITO.
Assim, na oração:
O galo velho olhou de novo o céu.
temos:
SUJEITO: O galo velho.
PREDICADO: olhou de novo o céu.
1. Tipos de Sujeito:
1.1. Sujeito simples
Quando o sujeito tem apenas um núcleo, isto é, quando o verbo se refere a um só substantivo, ou a um só pronome, ou a um só numeral, ou a uma só palavra substantivada, ou a uma só oração substantiva, o SUJEITO é SIMPLES.
1.2. Sujeito composto
É COMPOSTO o sujeito que tem mais de um núcleo, ou seja, o sujeito constituído de:
a) mais de um substantivo:
Vozes, risos e palmas vieram lá de baixo.
b) mais de um pronome:
E assim galgamos ele e eu o rochedo.
c) mais de uma palavra ou expressão substantivada:
Falam por mim os abandonados de justiça, os simples de coração.
d) mais de um numeral:
Passavam devagar, em fila, seis ou sete.
e) mais de uma oração:
Era melhor esquecer o nó / e pensar numa cama igual à de seu Tomás da bolandeira.
1.3. Sujeito oculto (determinado)
É aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado:
a) pela desinência verbal:
Gosto de chuva, Pedro.
O sujeito de gosto, indicado pela desinência -o, é o pronome eu.
b) pela presença do sujeito em outra oração do mesmo período ou de período contíguo:
O funcionário riu com esforço, e despediu-se enojado. Entrou numa livraria.
O sujeito de riu e despediu-se é o funcionário, mencionado apenas na primeira oração, antes de riu. E é também o sujeito do verbo entrou, pertencente ao período seguinte.
1.4. Sujeito indeterminado
Quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento, diz-se que o SUJEITO é INDETERMINADO. Nestes casos, põe-se o verbo:
a) ou na 3ª pessoa do plural:
Anunciaram que você morreu.
b) ou na 3ª pessoa do singular, com o pronome se:
Não se falava dele no Ateneu.
1.5. Oração sem sujeito
Não deve ser confundido o SUJEITO INDETERMINADO, que existe, mas não se pode ou não se deseja identificar, com a inexistência do sujeito.
Em orações como as seguintes:
Chove. Anoitece. Faz frio.
Interessa-nos o processo verbal em si, pois não o atribuímos a nenhum ser. Diz-se, então, que o verbo é IMPESSOAL; e o SUJEITO, INEXISTENTE.
Principais casos de oração sem sujeito:
a) com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza:
De noite choveu muito.
b) com o verbo haver na acepção de "existir":
Há flores, vidros, luz e sombra na casa das seis mulheres.
c) com os verbos haver, fazer e ir, quando indicam tempo decorrido:
Já estou aqui há dois dias.
d) com o verbo ser, na indicação de tempo em geral:
Era inverno na certa no alto sertão.
2. O predicado
O PREDICADO pode ser NOMINAL, VERBAL ou VERBO-NOMINAL.
2.1. Predicado nominal
O PREDICADO NOMINAL é formado por um VERBO DE LIGAÇÃO + PREDICATIVO DO SUJEITO.
2.1.1. O verbo de ligação
Os VERBOS DE LIGAÇÃO servem para estabelecer a união entre duas palavras ou expressões de caráter nominal. Não trazem propriamente idéia nova ao sujeito; funcionam apenas como elo entre este e o seu predicativo.
Os verbos de ligação podem expressar:
a) estado permanente:
O fato é vulgaríssimo.
b) estado transitório:
Os caboclos estavam desconfiados.
c) mudança de estado:
Fiquei sensibilizadíssimo.
d) continuidade de estado:
O rapaz continua indeciso.
e) aparência de estado:
Os olhos pareciam uma posta de sangue.
2.1.2. O predicativo do sujeito
PREDICATIVO DO SUJEITO é o núcleo do PREDICADO NOMINAL, ou seja, aquilo que se declara do sujeito.
Pode ser representado por:
a) substantivo ou expressão substantivada:
Eras marido e filho?
Não, eu não era o 301.
b) adjetivo ou locução adjetiva:
Ele ficou pasmo, sem palavras.
c) pronome:
Nunca fora nada na vida...
d) numeral:
Duas são as representações elementares do agradável realizado. (R. POMPÉIA)
e) oração:
O pior é que parti os óculos.
2.2. Predicado verbal
O PREDICADO VERBAL tem como núcleo, isto é, como elemento principal da declaração que se faz do sujeito, um VERBO SIGNIFICATIVO.
VERBOS SIGNIFICATIVOS (ou nocionais) são aqueles que trazem uma idéia nova ao sujeito. Podem ser INTRANSITIVOS e TRANSITIVOS.
Observação:
Como há verbos que se empregam ora como de ligação, ora como significativos, convém atentar sempre no valor que apresentam em determinado texto para classificá-los com acerto. Comparem-se, por exemplo, as frases:
|
Estavas
pensativa.
Andei muito feliz. Fiquei assustado. Continuamos alegres. |
Estavas no colégio.
Andei dez quilômetros. Fiquei em casa. Continuamos o passeio. |
Nas primeiras, os verbos estar, andar,
ficar e continuar são verbos de ligação; nas segundas, verbos significativos ou
nocionais.
2.2.1. Verbos intransitivos
Cedo, a noite caía.
Verificamos que a ação está integralmente contida na forma verbal caía. Tal verbo é, pois, INTRANSITIVO, ou seja, NÃO TRANSITIVO: a ação não vai além do verbo.
2.2.2. Verbos transitivos
Nestas orações:
-- Não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe.
Vemos que as formas verbais tenho e abençoe exigem uma palavra para completar-lhes o significado. Como o processo verbal não está integralmente contido nelas, mas se transmite a outro elemento (o substantivo dinheiro e o pronome te), estes verbos se chamam TRANSITIVOS.
Os VERBOS TRANSITIVOS podem ser DIRETOS, INDIRETOS, ou DIRETOS e INDIRETOS ao mesmo tempo.
2.2.2.1. Verbos transitivos diretos
Nestas orações:
Abrirei o portão. Verei meu filho?
A ação expressa por abrirei e verei se transmite a outros elementos (o portão e meu filho) diretamente, ou seja, sem o auxílio de preposição. São, por isso, chamados TRANSITIVOS DIRETOS, e o termo da oração que lhes integra o sentido recebe o nome de OBJETO DIRETO.
2.2.2.2. Verbos transitivos indiretos
Nestes exemplos:
A população da Vila assistia ao embarque.
Um poeta, na noite morta, não necessita de sono.
A ação expressa por assistia e necessita transita para outros elementos da oração (o embarque e sono) indiretamente, isto é, por meio das preposições a e de. Tais verbos são, por conseguinte, TRANSITIVOS INDIRETOS. O termo da oração que completa o sentido do verbo TRANSITIVO INDIRETO denomina-se OBJETO INDIRETO.
2.2.2.3. Verbos transitivos diretos e indiretos
Nestes exemplos:
Capitu preferia tudo ao seminário.
Não lhe arranquei mais nada.
A ação expressa por preferia e arranquei transita para outros elementos da oração, a um tempo, direta e indiretamente. Por outras palavras: estes verbos requerem simultaneamente OBJETO DIRETO e OBJETO INDIRETO para completar-lhes o sentido.
2.3. Predicado verbo-nominal
Não apenas os verbos de ligação se constróem com predicativo do sujeito. Também verbos significativos podem ser empregados com ele.
Neste exemplo:
As fisionomias respiram aliviadas...
O verbo respirar é significativo, e aliviadas refere-se a fisionomias, de que é uma qualificação.
A este predicado misto, que possui dois núcleos significativos (um verbo e um predicativo), dá-se o nome de VERBO-NOMINAL.
2.3.1. Variabilidade de predicação verbal
A análise da transitividade verbal é feita de acordo com o texto e não isoladamente. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente; ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Comparem-se estes exemplos:
Perdoai sempre [= INTRANSITIVO].
Perdoai as ofensas [=TRANSITIVO DIRETO].
Perdoai aos inimigos [= TRANSITIVO INDIRETO].
Perdoai as ofensas aos inimigos [= TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO].
Termos integrantes da oração
1. Complemento nominal
O COMPLEMENTO NOMINAL vem, como dissemos, ligado por preposição ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio cujo sentido integra ou limita.
Pode ser representado por:
a) substantivo (acompanhado ou não de seus modificadores):
A notícia do rebate falso espalhou-se depressa.
A amizade não é cortada de pressentimentos
b) pronome:
Seria nojo de mim?
c) numeral:
Foi ele o inventor dos e das dez mais.
d) palavra ou expressão substantivada:
E você tem medo daquela maluca?
e) oração:
Tenho certeza de que gosta de mim.
Observações:
1ª) O COMPLEMENTO NOMINAL pode estar integrando o sujeito, o predicativo, o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo.
2ª) Convém ter presente que o nome cujo sentido o COMPLEMENTO NOMINAL integra corresponde, geralmente, a um verbo transitivo de radical semelhante:
amor da pátria amar a pátria
ódio aos injustos odiar os injustos
2. Complemento verbal
São Complementos Verbais:
1) O Objeto Direto
2) O Objeto Indireto
3) O Predicativo do Objeto
4) O Agente da Passiva
2.1. Objeto direto
É o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, o complemento que normalmente vem ligado ao verbo sem preposição e indica o ser para o qual se dirige a ação verbal.
Pode ser representado por:
a) substantivo:
Passageiros e motoristas atiram moedas.
b) pronome (substantivo):
Os jornais nada publicaram.
c) numeral:
A moça da repartição ganha 450.
d) palavra substantivada:
Tem um quê de inexplicável.
e) oração:
Meu pai dizia que os amigos são para as ocasiões.
2.1.1. Objeto direto preposicionado
1. O OBJETO DIRETO costuma vir regido da preposição a:
a) com os verbos que exprimem sentimentos:
Não amo a ninguém, Pedro.
b) para evitar ambigüidade:
Mamãe bem sabe que ele o estima e respeita como a um pai!
c) quando vem antecipado, como no provérbio:
A homem pobre ninguém roube.
2. O OBJETO DIRETO é obrigatoriamente preposicionado quando expresso por:
a) pronome pessoal oblíquo tônico:
João, o povo, na noite imensa, festeja a ti.
b) pronome relativo quem:
A pessoa a quem amo está ausente.
2.1.2. Objeto direto pleonástico
1. Quando se quer chamar a atenção para o OBJETO DIRETO, costuma-se repeti-lo. É o que se chama OBJETO DIRETO PLEONÁSTICO. Nele uma das formas é sempre um pronome pessoal átono:
As minhas lições as tomava em casa um professor particular.
2. O OBJETO DIRETO PLEONÁSTICO pode também ser constituído de um pronome átono e de uma forma pronominal tônica preposicionada:
Um dia esquecera-a, a ela, D. Iris, no teatro e recolhera descuidado a Paissandu.
2.2. Objeto indireto
É o complemento de um verbo transitivo indireto, isto é, o complemento que se liga ao verbo por meio de preposição.
Pode ser representado por:
a) substantivo:
Falamos de vários assuntos inconfessáveis.
b) pronome (substantivo):
Também dialogava com elas.
c) numeral:
É preciso optar por um
Rosa optou por esta última.
d) palavra ou expressão substantivada:
Mas, -- quem daria dinheiro aos pobres..?
e) oração:
Esquecia-se de que não havia piano em casa.
Observação:
Não vem precedido de preposição o OBJETO INDIRETO representado pelos pronomes pessoais oblíquos me, te, lhe, nos, vos, lhes, e pelo reflexivo se.
A vida por aquelas bandas me agradava mais.
2.2.1. Objeto indireto pleonástico
Com a finalidade de realçá-lo, costuma-se repetir o OBJETO INDIRETO. Neste caso, uma das formas é obrigatoriamente um pronome pessoal átono:
Um dia a nós nos coube participar da pantomima como desinteressados palhaços.
2.3. Predicativo do objeto
Tanto o OBJETO DIRETO como o INDIRETO podem ser modificados por PREDICATIVO. O PREDICATIVO DO OBJETO só aparece no predicado VERBO-NOMINAL. Podem ser expressos por:
a) substantivo:
Uns a nomeiam primavera. Eu lhe chamo estado de espírito.
Na 1ª oração, o substantivo primavera é o predicativo do objeto direto a; na 2ª, estado de espírito é predicativo do objeto indireto lhe.
b) adjetivo:
Achei-a bonita com as duas lágrimas escorrendo pelas faces.
2. Como o PREDICATIVO DO SUJEITO, o DO OBJETO pode vir antecedido de preposição:
Os jornais chamam-na de tradicional.
O vigário já escolheu o Antoninho Pio, filho do coronel, como candidato a Prefeito.
2.4. Agente da passiva
É o complemento que, na voz passiva com auxiliar, designa o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito.
Este complemento verbal -- normalmente introduzido pela preposição por (ou per) e, algumas vezes, por de -- pode ser representado por:
a) substantivo ou palavra substantivada:
Antes de deixar a cidade foi visto por um amigo madrugador.
b) pronome:
Foi cercado por todos.
c) numeral:
Tudo quanto os leitores sabem de um e de outro foi ali exposto por ambos.
d) oração:
O elenco era formado por quem soubesse ao menos ler as "partes", velhos, moços, crianças.
2.4.1. Transformação de oração ativa em passiva
1. Quando uma oração contém um verbo constituído com objeto direto, ela pode assumir a forma passiva, mediante as seguintes transformações:
a) o objeto direto passa a ser sujeito;
b) o verbo passa à forma passiva analítica do mesmo tempo e modo;
c) o sujeito converte-se em agente da passiva.
Tomando-se como exemplo a seguinte oração da voz ativa:
A lua domina o mar.
Convertida na voz passiva, teríamos:
O mar é dominado pela lua.
2. Se numa oração da voz ativa o verbo estiver na 3ª pessoa do plural para indicar a indeterminação do sujeito, na transformação passiva cala-se o agente. Assim:
voz ativa voz passiva
Destruíram o cartaz. O cartaz foi destruído.
Destruíram os cartazes. Os cartazes foram destruídos.
Observações:
1ª ) Cumpre não esquecer que, na passagem de uma oração da voz ativa para a passiva, o agente e o paciente continuam os mesmos; apenas desempenham função sintática diferente.
2ª) Somente orações com objeto direto podem ser apassivadas.
VOZ ATIVA: Ouvimos gritos.
VOZ PASSIVA: Gritos foram ouvidos por nós.
3ª) Na voz ativa o termo que representa o agente é o SUJEITO do verbo; o que representa o paciente é o OBJETO DIRETO. Na voz passiva, o OBJETO (paciente) torna-se o SUJEITO do verbo.
4ª) Omite-se o agente da passiva quando este é ignorado, ou não interessa declará-lo. Tal omissão corresponde, na ativa, ao sujeito indeterminado. Na voz passiva pronominal, não se emprega o agente:
Ouviram-se gritos.
Termos acessórios da oração
Chamam-se ACESSÓRIOS os TERMOS que se juntam a um nome ou a um verbo para precisar-lhes o significado.
Embora tragam um dado novo à oração, os TERMOS ACESSÓRIOS não são indispensáveis ao entendimento do enunciado. Daí a sua denominação.
São TERMOS ACESSÓRIOS:
a) o ADJUNTO ADNOMINAL;
b) o ADJUNTO ADVERBIAL;
c) o APOSTO.
1. Adjunto adnominal
É o termo de valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um substantivo, qualquer que seja a função deste.
O ADJUNTO ADNOMINAL pode vir expresso por:
a) adjetivo:
A festa inaugural esteve animada.
b) locução adjetiva:
Tinha uma memória de prodígio.
c) artigo (definido ou indefinido):
Cessaram as vozes.
Às vezes, um galo canta.
d) pronome adjetivo:
Sofia nunca lhe contou este meu palpite?
e) numeral:
Os dois homens estavam fascinados.
f) oração:
O caso que vos citei é expressivo.
2. Adjunto adverbial
É o termo de valor adverbial que denota alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido deste, de um adjetivo, ou de um advérbio.
O ADJUNTO ADVERBIAL pode vir representado por:
a) advérbio:
Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
b) locução ou expressão adverbial:
De repente um carro começa a buzinar com força junto ao meu portão.
c) oração:
Como eu achasse muito breve, explicou-se.
2.1. Classificação dos adjuntos adverbiais
É difícil enumerar todos os tipos de ADJUNTOS ADVERBIAIS. Muitas vezes, só em face do texto se pode propor uma classificação exata. Não obstante, convém conhecer os seguintes:
a) DE CAUSA:
O homem, por desejo de nutrição e de amor, produziu a evolução histórica da humanidade.
b) DE COMPANHIA:
Vivi com Daniel perto de dois anos.
c) DE CONCESSÃO:
Apesar de cansado, não sentia sono.
d) DE DÚVIDA:
Talvez a gente combine alguma coisa para amanhã.
e) DE FIM:
Volto daqui a meia hora, para o enterro.
f) DE INSTRUMENTO:
A pobre morria com o palmo e meio de aço enterrado no coração.
g) DE INTENSIDADE:
Temos mudado muito.
h) DE LUGAR:
A lama respinga por toda a parte.
i) DE MATÉRIA:
Os quintais são massas escuras de verdura.
j) DE MEIO:
Voltamos de bote para a ponta do Caju.
l) DE MODO:
A orquestra atacava de rijo.
m) DE NEGAÇÃO:
Não quero ouvir mais cantar.
n) DE TEMPO:
Ontem Afonsina te escreveu.
3. Aposto
É o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome, ou a um equivalente destes, a título de explicação ou de apreciação.
1. Entre o APOSTO e o termo a que ele se refere há em geral pausa, marcada na escrita por vírgula, dois pontos, travessão.
Ela, Açucena, estava em seus olhos.
Tudo aquilo para mim era uma delícia o gado, o leite de espuma morna, o frio das cinco horas da manhã, a figura alta e solene de meu avô.
Mas pode também não haver pausa entre o APOSTO e a palavra principal, quando esta é um termo genérico, especificado ou individualizado pelo APOSTO.
A cidade de Teresópolis. O mês de junho. O poeta Bilac.
Este APOSTO, chamado DE ESPECIFICAÇÃO, não deve ser confundido com certas construções formalmente semelhantes, como:
O clima de Teresópolis. As festas de junho.
em que de Teresópolis e de junho equivalem a adjetivos (= teresopolitano e juninas) e funcionam, portanto, como ADJUNTOS ADNOMINAIS.
2. O aposto pode também ser representado por uma oração:
De pronto, fixou-se uma solução: traria o relógio.
4. Vocativo
Examinando estes versos:
Deus te abençoe, minha filha.
Ó lanchas, Deus vos leve pela mão!
Vemos que, neles, os termos minha filha e Ó lanchas não estão subordinados a nenhum outro termo da frase. Servem apenas para invocar, chamar ou nomear, com ênfase, uma pessoa.
A estes termos, de entoação exclamativa e isolados do resto da frase, dá-se o nome de VOCATIVO.
Colocação dos termos na oração
Ordem direta e ordem inversa
1. Em português predomina a ORDEM DIRETA, isto é, os termos da oração se dispõem preferentemente na seqüência:
sujeito + verbo + objeto direto + objeto indireto
ou
sujeito + verbo + predicativo
Essa preferência pela ORDEM DIRETA é mais sensível nas ORAÇÕES ENUNCIATIVAS ou DECLARATIVAS (afirmativas ou negativas). Assim:
Os vizinhos deram jantar aos órfãos nessa tarde.
Deodato ainda é menino.
2. Ao reconhecermos a predominância da ordem direta em português, não devemos concluir que as inversões repugnem ao nosso idioma. Pelo contrário, com muito mais facilidade do que outras línguas (do que o francês, por exemplo), ele nos permite alterar a ordem normal dos termos da oração. Há mesmo certas inversões que o uso consagrou, e se tornaram para nós uma exigência gramatical.
Assim:
Aqui outrora reboaram hinos.
Uma tarde entrou-me quarto a dentro um canarinho da terra.
2.2.1. Verbos intransitivos
Cedo, a noite caía.
Verificamos que a ação está integralmente contida na forma verbal caía. Tal verbo é, pois, INTRANSITIVO, ou seja, NÃO TRANSITIVO: a ação não vai além do verbo.
2.2.2. Verbos transitivos
Nestas orações:
-- Não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe.
Vemos que as formas verbais tenho e abençoe exigem uma palavra para completar-lhes o significado. Como o processo verbal não está integralmente contido nelas, mas se transmite a outro elemento (o substantivo dinheiro e o pronome te), estes verbos se chamam TRANSITIVOS.
Os VERBOS TRANSITIVOS podem ser DIRETOS, INDIRETOS, ou DIRETOS e INDIRETOS ao mesmo tempo.
2.2.2.1. Verbos transitivos diretos
Nestas orações:
Abrirei o portão. Verei meu filho?
A ação expressa por abrirei e verei se transmite a outros elementos (o portão e meu filho) diretamente, ou seja, sem o auxílio de preposição. São, por isso, chamados TRANSITIVOS DIRETOS, e o termo da oração que lhes integra o sentido recebe o nome de OBJETO DIRETO.
2.2.2.2. Verbos transitivos indiretos
Nestes exemplos:
A população da Vila assistia ao embarque.
Um poeta, na noite morta, não necessita de sono.
A ação expressa por assistia e necessita transita para outros elementos da oração (o embarque e sono) indiretamente, isto é, por meio das preposições a e de. Tais verbos são, por conseguinte, TRANSITIVOS INDIRETOS. O termo da oração que completa o sentido do verbo TRANSITIVO INDIRETO denomina-se OBJETO INDIRETO.
2.2.2.3. Verbos transitivos diretos e indiretos
Nestes exemplos:
Capitu preferia tudo ao seminário.
Não lhe arranquei mais nada.
A ação expressa por preferia e arranquei transita para outros elementos da oração, a um tempo, direta e indiretamente. Por outras palavras: estes verbos requerem simultaneamente OBJETO DIRETO e OBJETO INDIRETO para completar-lhes o sentido.
2.3. Predicado verbo-nominal
Não apenas os verbos de ligação se constróem com predicativo do sujeito. Também verbos significativos podem ser empregados com ele.
Neste exemplo:
As fisionomias respiram aliviadas...
O verbo respirar é significativo, e aliviadas refere-se a fisionomias, de que é uma qualificação.
A este predicado misto, que possui dois núcleos significativos (um verbo e um predicativo), dá-se o nome de VERBO-NOMINAL.
2.3.1. Variabilidade de predicação verbal
A análise da transitividade verbal é feita de acordo com o texto e não isoladamente. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente; ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Comparem-se estes exemplos:
Perdoai sempre [= INTRANSITIVO].
Perdoai as ofensas [=TRANSITIVO DIRETO].
Perdoai aos inimigos [= TRANSITIVO INDIRETO].
Perdoai as ofensas aos inimigos [= TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO].
Termos integrantes da oração
1. Complemento nominal
O COMPLEMENTO NOMINAL vem, como dissemos, ligado por preposição ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio cujo sentido integra ou limita.
Pode ser representado por:
a) substantivo (acompanhado ou não de seus modificadores):
A notícia do rebate falso espalhou-se depressa.
A amizade não é cortada de pressentimentos
b) pronome:
Seria nojo de mim?
c) numeral:
Foi ele o inventor dos e das dez mais.
d) palavra ou expressão substantivada:
E você tem medo daquela maluca?
e) oração:
Tenho certeza de que gosta de mim.
Observações:
1ª) O COMPLEMENTO NOMINAL pode estar integrando o sujeito, o predicativo, o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo.
2ª) Convém ter presente que o nome cujo sentido o COMPLEMENTO NOMINAL integra corresponde, geralmente, a um verbo transitivo de radical semelhante:
amor da pátria amar a pátria
ódio aos injustos odiar os injustos
2. Complemento verbal
São Complementos Verbais:
1) O Objeto Direto
2) O Objeto Indireto
3) O Predicativo do Objeto
4) O Agente da Passiva
2.1. Objeto direto
É o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, o complemento que normalmente vem ligado ao verbo sem preposição e indica o ser para o qual se dirige a ação verbal.
Pode ser representado por:
a) substantivo:
Passageiros e motoristas atiram moedas.
b) pronome (substantivo):
Os jornais nada publicaram.
c) numeral:
A moça da repartição ganha 450.
d) palavra substantivada:
Tem um quê de inexplicável.
e) oração:
Meu pai dizia que os amigos são para as ocasiões.
2.1.1. Objeto direto preposicionado
1. O OBJETO DIRETO costuma vir regido da preposição a:
a) com os verbos que exprimem sentimentos:
Não amo a ninguém, Pedro.
b) para evitar ambigüidade:
Mamãe bem sabe que ele o estima e respeita como a um pai!
c) quando vem antecipado, como no provérbio:
A homem pobre ninguém roube.
2. O OBJETO DIRETO é obrigatoriamente preposicionado quando expresso por:
a) pronome pessoal oblíquo tônico:
João, o povo, na noite imensa, festeja a ti.
b) pronome relativo quem:
A pessoa a quem amo está ausente.
2.1.2. Objeto direto pleonástico
1. Quando se quer chamar a atenção para o OBJETO DIRETO, costuma-se repeti-lo. É o que se chama OBJETO DIRETO PLEONÁSTICO. Nele uma das formas é sempre um pronome pessoal átono:
As minhas lições as tomava em casa um professor particular.
2. O OBJETO DIRETO PLEONÁSTICO pode também ser constituído de um pronome átono e de uma forma pronominal tônica preposicionada:
Um dia esquecera-a, a ela, D. Iris, no teatro e recolhera descuidado a Paissandu.
2.2. Objeto indireto
É o complemento de um verbo transitivo indireto, isto é, o complemento que se liga ao verbo por meio de preposição.
Pode ser representado por:
a) substantivo:
Falamos de vários assuntos inconfessáveis.
b) pronome (substantivo):
Também dialogava com elas.
c) numeral:
É preciso optar por um
Rosa optou por esta última.
d) palavra ou expressão substantivada:
Mas, -- quem daria dinheiro aos pobres..?
e) oração:
Esquecia-se de que não havia piano em casa.
Observação:
Não vem precedido de preposição o OBJETO INDIRETO representado pelos pronomes pessoais oblíquos me, te, lhe, nos, vos, lhes, e pelo reflexivo se.
A vida por aquelas bandas me agradava mais.
2.2.1. Objeto indireto pleonástico
Com a finalidade de realçá-lo, costuma-se repetir o OBJETO INDIRETO. Neste caso, uma das formas é obrigatoriamente um pronome pessoal átono:
Um dia a nós nos coube participar da pantomima como desinteressados palhaços.
2.3. Predicativo do objeto
Tanto o OBJETO DIRETO como o INDIRETO podem ser modificados por PREDICATIVO. O PREDICATIVO DO OBJETO só aparece no predicado VERBO-NOMINAL. Podem ser expressos por:
a) substantivo:
Uns a nomeiam primavera. Eu lhe chamo estado de espírito.
Na 1ª oração, o substantivo primavera é o predicativo do objeto direto a; na 2ª, estado de espírito é predicativo do objeto indireto lhe.
b) adjetivo:
Achei-a bonita com as duas lágrimas escorrendo pelas faces.
2. Como o PREDICATIVO DO SUJEITO, o DO OBJETO pode vir antecedido de preposição:
Os jornais chamam-na de tradicional.
O vigário já escolheu o Antoninho Pio, filho do coronel, como candidato a Prefeito.
2.4. Agente da passiva
É o complemento que, na voz passiva com auxiliar, designa o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito.
Este complemento verbal -- normalmente introduzido pela preposição por (ou per) e, algumas vezes, por de -- pode ser representado por:
a) substantivo ou palavra substantivada:
Antes de deixar a cidade foi visto por um amigo madrugador.
b) pronome:
Foi cercado por todos.
c) numeral:
Tudo quanto os leitores sabem de um e de outro foi ali exposto por ambos.
d) oração:
O elenco era formado por quem soubesse ao menos ler as "partes", velhos, moços, crianças.
2.4.1. Transformação de oração ativa em passiva
1. Quando uma oração contém um verbo constituído com objeto direto, ela pode assumir a forma passiva, mediante as seguintes transformações:
a) o objeto direto passa a ser sujeito;
b) o verbo passa à forma passiva analítica do mesmo tempo e modo;
c) o sujeito converte-se em agente da passiva.
Tomando-se como exemplo a seguinte oração da voz ativa:
A lua domina o mar.
Convertida na voz passiva, teríamos:
O mar é dominado pela lua.
2. Se numa oração da voz ativa o verbo estiver na 3ª pessoa do plural para indicar a indeterminação do sujeito, na transformação passiva cala-se o agente. Assim:
voz ativa voz passiva
Destruíram o cartaz. O cartaz foi destruído.
Destruíram os cartazes. Os cartazes foram destruídos.
Observações:
1ª ) Cumpre não esquecer que, na passagem de uma oração da voz ativa para a passiva, o agente e o paciente continuam os mesmos; apenas desempenham função sintática diferente.
2ª) Somente orações com objeto direto podem ser apassivadas.
VOZ ATIVA: Ouvimos gritos.
VOZ PASSIVA: Gritos foram ouvidos por nós.
3ª) Na voz ativa o termo que representa o agente é o SUJEITO do verbo; o que representa o paciente é o OBJETO DIRETO. Na voz passiva, o OBJETO (paciente) torna-se o SUJEITO do verbo.
4ª) Omite-se o agente da passiva quando este é ignorado, ou não interessa declará-lo. Tal omissão corresponde, na ativa, ao sujeito indeterminado. Na voz passiva pronominal, não se emprega o agente:
Ouviram-se gritos.
Termos acessórios da oração
Chamam-se ACESSÓRIOS os TERMOS que se juntam a um nome ou a um verbo para precisar-lhes o significado.
Embora tragam um dado novo à oração, os TERMOS ACESSÓRIOS não são indispensáveis ao entendimento do enunciado. Daí a sua denominação.
São TERMOS ACESSÓRIOS:
a) o ADJUNTO ADNOMINAL;
b) o ADJUNTO ADVERBIAL;
c) o APOSTO.
1. Adjunto adnominal
É o termo de valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um substantivo, qualquer que seja a função deste.
O ADJUNTO ADNOMINAL pode vir expresso por:
a) adjetivo:
A festa inaugural esteve animada.
b) locução adjetiva:
Tinha uma memória de prodígio.
c) artigo (definido ou indefinido):
Cessaram as vozes.
Às vezes, um galo canta.
d) pronome adjetivo:
Sofia nunca lhe contou este meu palpite?
e) numeral:
Os dois homens estavam fascinados.
f) oração:
O caso que vos citei é expressivo.
2. Adjunto adverbial
É o termo de valor adverbial que denota alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido deste, de um adjetivo, ou de um advérbio.
O ADJUNTO ADVERBIAL pode vir representado por:
a) advérbio:
Eu jamais tinha ouvido coisa igual.
b) locução ou expressão adverbial:
De repente um carro começa a buzinar com força junto ao meu portão.
c) oração:
Como eu achasse muito breve, explicou-se.
2.1. Classificação dos adjuntos adverbiais
É difícil enumerar todos os tipos de ADJUNTOS ADVERBIAIS. Muitas vezes, só em face do texto se pode propor uma classificação exata. Não obstante, convém conhecer os seguintes:
a) DE CAUSA:
O homem, por desejo de nutrição e de amor, produziu a evolução histórica da humanidade.
b) DE COMPANHIA:
Vivi com Daniel perto de dois anos.
c) DE CONCESSÃO:
Apesar de cansado, não sentia sono.
d) DE DÚVIDA:
Talvez a gente combine alguma coisa para amanhã.
e) DE FIM:
Volto daqui a meia hora, para o enterro.
f) DE INSTRUMENTO:
A pobre morria com o palmo e meio de aço enterrado no coração.
g) DE INTENSIDADE:
Temos mudado muito.
h) DE LUGAR:
A lama respinga por toda a parte.
i) DE MATÉRIA:
Os quintais são massas escuras de verdura.
j) DE MEIO:
Voltamos de bote para a ponta do Caju.
l) DE MODO:
A orquestra atacava de rijo.
m) DE NEGAÇÃO:
Não quero ouvir mais cantar.
n) DE TEMPO:
Ontem Afonsina te escreveu.
3. Aposto
É o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome, ou a um equivalente destes, a título de explicação ou de apreciação.
1. Entre o APOSTO e o termo a que ele se refere há em geral pausa, marcada na escrita por vírgula, dois pontos, travessão.
Ela, Açucena, estava em seus olhos.
Tudo aquilo para mim era uma delícia o gado, o leite de espuma morna, o frio das cinco horas da manhã, a figura alta e solene de meu avô.
Mas pode também não haver pausa entre o APOSTO e a palavra principal, quando esta é um termo genérico, especificado ou individualizado pelo APOSTO.
A cidade de Teresópolis. O mês de junho. O poeta Bilac.
Este APOSTO, chamado DE ESPECIFICAÇÃO, não deve ser confundido com certas construções formalmente semelhantes, como:
O clima de Teresópolis. As festas de junho.
em que de Teresópolis e de junho equivalem a adjetivos (= teresopolitano e juninas) e funcionam, portanto, como ADJUNTOS ADNOMINAIS.
2. O aposto pode também ser representado por uma oração:
De pronto, fixou-se uma solução: traria o relógio.
4. Vocativo
Examinando estes versos:
Deus te abençoe, minha filha.
Ó lanchas, Deus vos leve pela mão!
Vemos que, neles, os termos minha filha e Ó lanchas não estão subordinados a nenhum outro termo da frase. Servem apenas para invocar, chamar ou nomear, com ênfase, uma pessoa.
A estes termos, de entoação exclamativa e isolados do resto da frase, dá-se o nome de VOCATIVO.
Colocação dos termos na oração
Ordem direta e ordem inversa
1. Em português predomina a ORDEM DIRETA, isto é, os termos da oração se dispõem preferentemente na seqüência:
sujeito + verbo + objeto direto + objeto indireto
ou
sujeito + verbo + predicativo
Essa preferência pela ORDEM DIRETA é mais sensível nas ORAÇÕES ENUNCIATIVAS ou DECLARATIVAS (afirmativas ou negativas). Assim:
Os vizinhos deram jantar aos órfãos nessa tarde.
Deodato ainda é menino.
2. Ao reconhecermos a predominância da ordem direta em português, não devemos concluir que as inversões repugnem ao nosso idioma. Pelo contrário, com muito mais facilidade do que outras línguas (do que o francês, por exemplo), ele nos permite alterar a ordem normal dos termos da oração. Há mesmo certas inversões que o uso consagrou, e se tornaram para nós uma exigência gramatical.
Assim:
Aqui outrora reboaram hinos.
Uma tarde entrou-me quarto a dentro um canarinho da terra.
A
FORMAÇÃO DE PORTUGAL E A Origem da
Língua Portuguesa
Derivou-se o nosso idioma, como língua romântica, do
Latim vulgar.
É bastante difícil conhecer a língua dos povos habitantes na
península Ibérica antes dos Romanos dela se apossarem.
Os Romanos ocuparam a Península Ibérica no séc. III antes de nossa
Era. Contudo, ela só é incorporada ao Império no ano 197 antes de Cristo. Tal
fato não foi pacifico. Houve rebeliões contra o jugo Romano.
O Latim, língua dos
conquistadores, foi paulatinamente suplantado a dos povos pré-latinos. “Os
turdetanos, e mormente os ribeirinhos do Bétis, adotaram de todos os costumes
romanos, e até já nem se lembram da própria língua.” (Estrabão).
O Latim implantado na Península Ibérica não era o adotado por Cícero
e outros escritores da época clássica (Latim clássico).
Era sim o denominado Latim
Vulgar. O Latim Vulgar era de vocabulário reduzido, falado por aqueles que
encaravam a vida pelo lado prático sem as preocupações de estilísticas do falar
e do escrever.
O Latim Clássico foi conhecido também na Península Ibérica,
principalmente nas escolas. Atestam tal verdade os naturais da Península :
Quintiliano e Sêneca.
- O Português vem do Latim vulgar
Sabe-se que o latim era uma
língua corrente de Roma. Roma, destinada pela sorte e valor de suas bases,
conquista, através de seus soldados, regiões imensas. Com as conquistas vai o
latim sendo levado a todos os rincões pelos soldados romanos, pelos colonos,
pelos homens de negócios. As viagens favoreciam a difusão do latim.
Primeiramente o latim se expande por toda a Itália, depois pela
Córsega e Sardenha, plenas províncias do oeste do domínio colonial, pela Gália,
pela Espanha, pelo norte e nordeste da Récia, pelo leste da Dácia. O latim se
difundiu acarretando falares diversos de conformidade com as regiões e
povoados, surgindo daí as línguas românticas ou novilatinas.
Românticas porque tiveram a mesma origem: ao latim vulgar. Essas
línguas são, na verdade, continuação do latim vulgar. Essas línguas românticas
são: português, espanhol, catalão, provençal francês, italiano, rético, sardo e
romeno.
No lado ocidental da Península Ibérica o latim sentiu certas
influencias e apresenta características especiais que o distinguiam do “modus
loquendi” de outras regiões onde se formavam e se desenvolviam as línguas
românticas. Foi nesta região ocidental que se fixaram os suevos. Foram os povos
bárbaros que invadiram a península, todos de origem germânica Sucederam-se nas
invasões os vândalos, os suevos (fixaram-se no norte da península que mais
tarde pertenceria a Portugal), os visigodos. Esses povos eram atrasados de
cultura. Admitiram os costumes dos vencidos juntamente com a língua regional.
É normal entender a influencia desses povos bárbaros foi grande
sobre o latim que aí se falava, nessa altura bastante modificado.
- Formação de Portugal
No século V, vários grupos bárbaros entraram na região ibérica,
destruindo a organização política e administrativa dos romanos. Entretanto é
interessante notar o domínio político não corresponde a um domínio cultural, os
bárbaros sofreram um processo de
romanização. Neste período formaram-se uma sociedade distinta em três
níveis: clero, os ricos e políticos poderosos; a nobreza, proprietários e militares;
e o povo.
No século VII essa situação sofre profundas mudanças devido a
invasão muçulmana, estendendo –se assim o domínio árabe variando de regiões, e
tinha sua maior concentração na região sul da Península, e o norte não
conquistado servia de refúgio aos cristãos
e lá organizaram a luta de reconquista, que visava a retomado do
território tomado pelos árabes.
No que a Reconquista progredia a estrutura de poder e a organização
territorial vão ganhando novos contornos; os reino do norte da Península (Leão,
Castela, Aragão) estendem suas fronteiras para o sul, o reino de Leão passa a
pertencer a o Condato Portucalense.
No fim do século XI, o norte da Península era governado por o rei
Afonso VI, pretendendo expulsar todos os muçulmanos, vieram cavaleiros de todas
as partes para lutar contra os mouros, dentre os quais dois nobres de
borgonhas: Raimundo e seu primo Henrique. Afonso VI tinha duas filhas: Urraca e Teresa. O rei
promoveu o casamento de Urraca e
Raimundo e lhe deu como dote o
governo de Galiza; pouco depois
casou Teresa com Henrique e lhe deu o governo do Condato Portucalense. D.
Henrique continua a luta contra os mouros e anexando os novos territórios ao
seu condato, que vai ganhado os contornos do que hoje é Portugal.
Em 1128, Afonso Henriques – filho de Henrique e Teresa- proclamou a
independência do Condato Portucalense, entrando em luta com as forças do reino
de Leão. Quando em 1185 morre Afonso Henriques, os muçulmanos dominavam somente
o sul de Portugal. Sucede a Afonso Henriques o rei D. Sancho, que continuava a
lutar contra os mouros até sua expulsão total.. Dessa forma consolida-se a
primeira dinastia portuguesa: a Dinastia de Borgonhas.
A SOCIEDADE
A formação de Portugal ocorreu num período de grande transição em
que se percebe que o sistema feudal em crise e, em contrapartida, o crescimento
de em áreas urbanas. Então este período se resume ao período de transição do
feudalismo para as atividades econômicas, como os mercadores e os negociantes
de dinheiro.
EVOLUÇÃO DA LINGUA
PORTUGUESA
A formação e a
própria evolução da língua portuguesa contam com um elemento decisivo: o
domínio romano, sem desprezar por completo a influência das diversas línguas
faladas na região antes do domínio romano sobre o latim vulgar, o latim passou
por diversificações, dando origem a dialetos que se denominava romanço ( do
latim romanice que significava, falar a maneira dos romanos).
Com várias invasões barbaras no século V, e a queda do Império
Romano no Ocidente, surgiram vários
destes dialetos, e numa evolução constituíram-se as línguas modernas conhecidas
como: neolatinas. Na Península Ibérica, várias línguas se formaram, entre elas
o catalão, o castelhano, o galego-português, deste último resultou a língua
portuguesa.
O galego-português, era uma língua limitada a todo Ocidente da
Península, correspondendo aos territórios da Galiza e de Portugal,
Cronologicamente limitado entre os séculos XII e XIV, coincidindo ocom o
período da Reconquista. Na entrada do século XIV, percebe-se maior influência
dos falares do sul, notadamente na região de Lisboa; aumentando assim as
diferenças entre o galego e o português.
O galego apareceu durante o século XII e XV, aparecendo tanto em
documentos oficiais da região de Galiza como em obras poéticas. Apartir do
século XVI, com o domínio de Castela, introduz-se o castelhano como língua
oficial, e o galego tem sua importância relegada a plano secundário.
Já o português, desde a consolidação da autonomia política e, mais
tarde, com a dilatação do império luso, consagra-se como língua oficial. Da
evolução da língua portuguesa destaca-se alguns períodos: fase proto-histórica,
do Português arcaico e do Português moderno.
FASES HISTÓRICAS DO PORTUGUÊS
·
Fase
proto-histórica
Anterior ao século
XII, com textos escritos em latim bárbaro (modalidade do latim usado apenas em
documentos e por isso também chamado de latim tabaliônico ou dos tabeliões).
·
Fase do português arcáico
Do século XII ao
século XVI, corresponde dois períodos:
a) do século XII ao século XIV, com textos em
galego-português;
b) do século XIV ao século XVI, com a
separação do galego e o portugu6es.
·
Fase do português moderno
A
partir do século XVI, quando a língua portuguesa se uniformiza e adquiri as
caracteristicas do português atual. A rica literatura renascente portuguesa,
produzida por Camões, teve papel fundamental nesse processo. As primeiras
gramáticas e dicionários da língua portuguesa também surgiram do século XVI.
GEOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
O
atual quadro das regiões de língua portuguesa se deve as expansões territorial
lusitana ocorrida no século XV a XVI. Assim que o língua portuguesa partiu do
ocidente lusitano , entrou por todos os continentes: América (com o Brasil),
África (Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, República Democrática de
São Tomé e Príncipe), Ásia (Macau, Goa, Damão, Diu), e Oceania (Timor), além
das ilhas atlânticas próximas da costa africana ( Açores e Madeira), que fazem
parte do estado português.
Em
alguns países o português é a língua
oficial (República Democrática de São Tomé e Príncipe, o Brasil, Angola,
Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde), e apesar de incorporações de vocábulos
nativos de modificações de pronúncia, mantêm uma unidade com o português de
Portugal.
Em
outros locais, surgiram dialetos originários
do português. E também regiões em que essa língua é falada apenas por
uma peguena parte da população, como em Hong Kong e Sri Lanka.
Bibliografia:
NICOLA, José de, Língua,
Literatura e Redação, 6ª ed., Editora Scipione,
1994
TERSARIOL, Alpheu,
Biblioteca da língua portuguesa, 14ª ed., Editorial
Irradiação S.A.- São Paulo, 1970
Regência
nominal
A regência nominal estuda os casos em que um nome
(substantivo, adjetivo ou advérbio) exige um outro termo que lhe complete o
sentido. Normalmente, o complemento de
um nome vem iniciando por uma preposição.
O fato de um nome ou um verbo exigir determinada
preposição ou não exigir prende-se ao uso que os falantes do idioma vão fazendo
da língua. Assim, com o passar do
tempo, determinadas formas vão sendo incorporadas pela língua culta, isto é, pela
língua gramaticalmente correta enquanto outras formas consideradas incorretas
vão sendo rejeitadas, embora continuem, em sua maioria, a ser aceitas pela
língua popular usadas por ela.
No que se refere à regência nominal, quase não há
diferença de usos, se compararmos a língua popular. Por esse motivo - e também pelo fato de ser um assunto pouco
exigido nos exames vestibulares - vamos oferecer a você apenas uma pequena
lista onde estão relacionados alguns nomes e as preposições que ele exigem.
alheio A , DE hostil
A, PARA
apto A, PARA imune A
contente COM, DE , POR impossível DE
cruel COM, PARA inútil
A,
PARA
dedicado A junto
A, DE
fácil DE, PARA propenso
A, PARA
Regência Verbal
A regência estuda
a relação existente entre os termos de uma oração ou entre as orações de
um período. A regência verbal estuda a relação de
dependência que se estabelece entre os verbos e seus complementos. Na realidade o que estudamos na
regência verbal é se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto,
transitivo direto e indireto ou intransitivo e qual a preposição relacionada
com ele.
Vamos, então, aos verbos.
Verbos Transitivos Diretos
São verbos que
indicam que o sujeito pratica a ação, sofrida por outro elemento, denominado
objeto direto. Por essa razão, uma das maneiras mais fáceis de se analisar se
um verbo é transitivo direto é passar a
oração para a voz passiva, pois somente verbo transitivo direto admite tal
transformação, além de obedecer, pagar e perdoar, que, mesmo não sendo VTD,
admitem a passiva.
O objeto direto pode
ser representado por um substantivo ou palavra substantivada, uma oração
(oração subordinada substantiva objetiva direta) ou por um pronome oblíquo.
Os pronomes
oblíquos átonos que funcionam como objeto direto são os seguintes: me, te, se,
o, a, nos, vos, os, as.
Os pronomes
oblíquos tônicos que funcionam como objeto direto são os seguintes: mim, ti,
si, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Como são pronomes oblíquos tônicos, só são
usados com preposição, por isso se classificam como objeto direto preposicionado.
Vamos à lista,
então, dos mais importantes verbos transitivos diretos: Há verbos que surgirão
em mais de uma lista, pois têm mais de um significado e mais de uma regência.
Aspirar será VTD,
quando significar sorver, absorver.
Como
é bom aspirar a brisa da tarde.
Visar será VTD,
quando significar mirar ou dar visto.
O
atirador visou o alvo, mas errou o tiro.
O
gerente visou o cheque do cliente.
Agradar será VTD,
quando significar acariciar ou contentar.
O
Gilson ficou agarrando a menina por
horas.
Para
agradar o pai, ficou em casa naquele dia
.
Querer será
VTD, quando significar desejar, ter a intenção ou vontade de, tencionar..
Sempre
quis seu bem.
Quero
que me digam quem é o culpado.
Chamar será VTD,
quando significar convocar.
Chamei
todos os sócios, para participarem da reunião.
Implicar será
VTD, quando significar fazer supor, dar a entender; produzir como conseqüência,
acarretar.
Os
precedentes daquele juiz implicam grande honestidade.
Suas
palavras implicam denúncia contra o deputado.
Desfrutar e
Usufruir são VTD sempre.
Desfrutei
os bens deixados por meu pai.
Pagam o preço do progresso aqueles que
menos o desfrutam. (e não desfrutam dele, como foi escrito no tema da redação
da UEL em julho de 1996)
Namorar é sempre
VTD. Só se usa a preposição com, para iniciar Adjunto Adverbial de Companhia.
Esse verbo possui os significados de inspirar amor a, galantear, cortejar,
apaixonar, seduzir, atrair, olhar com insistência e cobiça, cobiçar.
Joanilda namorava o filho do
delegado.
O
mendigo namorava a torta que estava sobre a mesa.
Eu
estava namorando este cargo há anos.
Compartilhar é
sempre VTD.
Berenice compartilhou o meu sofrimento.
Esquecer e
Lembrar serão VTD, quando não forem pronominais, ou seja, caso não sejam usados
com pronome, não serão usados também com preposição.
Esqueci
que havíamos combinado sair.
Ela
não lembrou o meu nome.
Verbos Transitivos Indiretos
São verbos que se
ligam ao complemento por meio de uma preposição. O complemento é denominado
objeto indireto.
O objeto indireto
pode ser representado por um substantivo, ou palavra substantivada, uma oração
(oração subordinada substantiva objetiva indireta) ou por um pronome oblíquo.
Os pronomes
oblíquos átonos que funcionam como objeto indireto são os seguintes: me, te,
se, lhe, nos, vos, lhes.
Os pronomes
oblíquos tônicos que funcionam como objeto indireto são os seguintes: mim, ti,
si, ele, ela, nós, vós, eles, elas.
Vamos à lista,
então, dos mais importantes verbos transitivos indiretos: Há verbos que
surgirão em mais de uma lista, pois têm mais de um significado e mais de uma
regência.
Verbos Transitivos Indiretos, com a prep.
a:
Aspirar será VTI,
com a prep. a, quando significar almejar, objetivar..
Aspiramos a uma vaga naquela
universidade.
Visar será VTI,
com a prep. a, quando significar almejar, objetivar.
Sempre visei a uma vida melhor.
Agradar será VTI,
com a prep. a, quando significar ser agradável; satisfazer.
Para agradar ao pai, estudou com afinco
o ano todo.
Querer será VTI, com
a prep. a, quando significar estimar.
Quero aos meus amigos, como aos meus
irmãos.
Assistir será
VTI, com a prep. a, quando significar ver ou ter direito.
Gosto de assistir aos jogos do Santos.
Assiste ao trabalhador o descanso
semanal remunerado.
Custar será VTI,
com a prep. a, quando significar ser difícil. Nesse caso o verbo custar terá
como
sujeito aquilo que é
difícil, nunca a pessoa, que será objeto indireto.
Custou-me acreditar em Hipocárpio. e não
Eu custei a acreditar...
Proceder será VTI,
com a prep. a, quando significar dar início.
Os fiscais procederam à prova com
atraso.
Obedecer e
desobedecer são sempre VTI, com a prep. a.
Obedeço a todas as regras da empresa.
Revidar é sempre
VTI, com a prep. a.
Ele revidou ao ataque instintivamente.
Responder será
VTI, com a prep. a, quando possuir apenas um complemento.
Respondi
ao bilhete imediatamente.
Respondeu
ao professor com desdém.
Caso tenha dois
complementos, será VTDI, com a prep. a.
Alguns verbos transitivos indiretos, com a prep. a, não
admitem a utilização do complemento lhe. No lugar, deveremos colocar a ele, a
ela, a eles, a elas. Dentre eles, destacam-se os seguintes:
Aspirar, visar,
assistir(ver), aludir, referir-se, anuir.
Quando houver, na
oração, um verbo transitivo indireto, com a prep. a, seguido de um substantivo
feminino, que exija o artigo a, ocorrerá o fenômeno denominado crase, que deve
ser caracterizado pelo acento grave (à ou às).
Assisti à peça das meninas do terceiro
colegial.
Verbos
Transitivos Indiretos, com a prep. com:
Simpatizar e
Antipatizar sempre são VTI, com a prep. com. Não são verbos pronominais,
portanto não existe o verbo simpatizar-se, nem antipatizar-se.
Sempre simpatizei com Eleodora, mas
antipatizo com o irmão dela.
Implicar = será
VTI, com a prep. com, quando significar antipatizar.
Não sei por que o professor implica
comigo.
Verbos
Transitivos Indiretos, com a prep. de:
Esquecer-se e
lembrar-se serão VTI, com a prep. de, quando forem pronominais, ou seja,
somente quando forem usados com pronome, poderão ser usados com a prep. de.
Esqueci-me
de que havíamos combinado sair.
Ela
não se lembrou do meu nome.
Proceder será VTI, com a prep. de,
quando significar derivar-se, originar-se.
Esse mau-humor de Pedro procede da
educação que recebeu.
Verbos
Transitivos Indiretos, com a prep. em:
Consistir é
sempre VTI, com a prep. em. Esse verbo significa cifrar-se, resumir-se ou estar
firmado, ter por base, ser constituído por.
O plano consiste em criar uma secretaria
especial.
Sobressair é
sempre VTI, com a prep. em. Não é verbo pronominal, portanto não existe o verbo
sobressair-se.
Quando estava no colegial,
sobressaía em todas as matérias.
Verbos
Transitivos Indiretos, com a prep. por:
Torcer é VTI, com
a prep. por. Pode ser também verbo intransitivo. Somente neste caso, usa-se com
a prep. para, que dará início a Oração Subordinada Adverbial de Finalidade.
Para ficar mais fácil, memorize assim: Torcer por + substantivo ou pronome.
Torcer para + oração (com verbo).
Estamos
torcendo por você.
Estamos
torcendo para você conseguir seu intento.
Chamar será VTI,
com a prep. por, quando significar invocar.
Chamei por você insistentemente, mas não
me ouviu.
Verbos Transitivos Diretos e Indiretos
São os verbos que
possuem os dois complementos - objeto direto e objeto indireto.
Chamar será VTDI,
com a prep. a, quando significar repreender.
Chamei
o menino à atenção, pois estava conversando durante a aula.
Chamei-o
à atenção.
Obs.: A expressão
Chamar a atenção de alguém não significa repreender, e sim fazer se notado. Por
exemplo: O cartaz chamava a atenção de todos que por ali passavam.
Implicar será
VTDI, com a prep. em, quando significar envolver alguém.
Implicaram o advogado em negócios
ilícitos.
Custar será VTDI,
com a prep. a, quando significar causar trabalho, transtorno.
Sua irresponsabilidade custou sofrimento
a toda a família.
Agradecer, Pagar
e Perdoar são VTDI, com a prep. a. O objeto direto sempre será a coisa, e o
objeto indireto, a pessoa.
Agradeci
a ela o convite.
Paguei
a conta ao Banco.
Perdôo
os erros ao amigo.
Pedir é VTDI, com
a prep. a. Sempre deve ser construído com a expressão Quem pede, pede algo a
alguém. Portanto é errado dizer Pedir para que alguém faça algo.
Pedimos a todos que tragam os livros.
Preferir é sempre
VTDI, com a prep. a. Com esse verbo, não se deve usar mais, muito mais, mil
vezes, nem que ou do que.
Prefiro estar só a ficar
mal-acompanhado.
Avisar, advertir,
certificar, cientificar, comunicar, informar, lembrar, noticiar, notificar,
prevenir são VTDI, admitindo duas construções: Quem informa, informa algo a
alguém ou Quem informa, informa alguém de algo.
Advertimos aos usuários que não nos
responsabilizamos por furtos ou roubos.
Advertimos os usuários de
que não nos responsabilizamos por furtos ou roubos.
Quando houver, na
oração, um verbo transitivo direto e indireto, com a prep. a, seguido de
um substantivo feminino, que exija o
artigo a, ocorrerá o fenômeno denominado crase, que deve ser caracterizado pelo
acento grave (à ou às).
Advertimos às alunas que não poderiam
usar a sala fora do horário de aula.
Verbos Intransitivos
São os verbos que
não necessitam de complementação. Sozinhos, indicam a ação ou o fato.
Assistir será
intransitivo, quando significar morar.
Assisto em Londrina desde que nasci.
Custar será
intransitivo, quando significar ter preço.
Estes sapatos custaram R$50,00.
Proceder será
intransitivo, quando significar ter fundamento.
Suas
palavras não procedem!
Morar, residir e
situar-se sempre são intransitivos.
Moro em Londrina; resido no Jardim
Petrópolis; minha casa situa-se na rua Denise de Souza.
Deitar-se e
levantar-se são sempre intransitivos.
Deito-me às 22h e levanto-me às 6h.
Ir, vir, voltar,
chegar, cair, comparecer e dirigir-se são intransitivos. Aparentemente eles têm
complemento, pois Quem vai, vai a algum lugar. Porém a indicação de lugar é
circunstância, e não complementação. Classificamos como Adjunto Adverbial de
Lugar. Alguns gramáticos classificam como Complemento Circunstancial de Lugar.
Esses verbos
exigem a prep. a, na indicação de destino, e de, na indicação de procedência.
Só se usa a prep.
em, na indicação de meio, instrumento.
Cheguei
de Curitiba há meia hora.
Vou
a São Paulo no avião das 8h.
Quando houver, na oração, um verbo
intransitivo, com a prep. a, seguido de um substantivo feminino, que exija o
artigo a, ocorrerá o fenômeno denominado crase, que deve ser caracterizado pelo
acento grave (à ou às).
Vou à Bahia.
Verbos de regência oscilante
VTD ou VTI, com a
prep. a:
Assistir pode ser
VTD ou VTI, com a prep. a, quando significar ajudar, prestar assistência.
Minha família sempre
assistiu o Lar dos Velhinhos.
Minha família sempre assistiu ao Lar dos
Velhinhos.
Chamar pode ser
VTD ou VTI, com a prep. a, quando significar dar qualidade. A qualidade pode
vir precedida da prep. de, ou não.
Chamaram-no
irresponsável.
Chamaram-no
de irresponsável.
Chamaram-lhe
irresponsável.
Chamaram-lhe de irresponsável.
Atender pode ser
VTD ou VTI, com a prep. a.
Atenderam o meu pedido prontamente.
Atenderam
ao meu pedido prontamente.
Anteceder pode
ser VTD ou VTI, com a prep. a.
A
velhice antecede a morte.
A
velhice antecede à morte.
Presidir pode ser
VTD ou VTI, com a prep. a.
Presidir
o país.
Presidir
ao país.
Renunciar pode ser VTD ou VTI, com
a prep. a.
Nunca
renuncie seus sonhos.
Nunca
renuncie a seus sonhos.
Satisfazer pode
ser VTD ou VTI, com a prep. a.
Não satisfaça todos os seus desejos.
Não satisfaça a todos os seus desejos.
VTD ou VTI, com a
prep. de:
Precisar e
necessitar podem ser VTD ou VTI, com a prep. de.
Precisamos
pessoas honestas.
Precisamos
de pessoas honestas.
Abdicar pode ser VTD ou VTI, com a
prep. de, e também VI.
O
Imperador abdicou o trono.
O
Imperador abdicou do trono.
O
Imperador abdicou.
Gozar pode ser
VTD ou VTI, com a prep. de.
Ele
não goza sua melhor forma física.
Ele não goza de sua melhor forma física.
VTD ou VTI, com a prep. em:
Acreditar e crer podem ser VTD ou VTI, com a prep.
em.
Nunca cri pessoas que falam muito de si
próprias.
Nunca cri em pessoas que falam muito de
si próprias.
Atentar pode ser VTD ou VTI, com a prep. em, ou com
as prep. para e por.
Em suas redações atente a ortografia.
Deram-se bem os que atentaram nisso.
Não atentes para os elementos
supérfluos.
Atente por si, enquanto é tempo.
Cogitar pode ser VTD ou VTI, com a prep. em, ou com a
prep. de.
Começou a cogitar uma viagem pelo
litoral brasileiro.
Hei de cogitar no caso.
O diretor cogitou de demitir-se.
Consentir pode se VTD ou VTI, com a prep. em.
Como o pai desse garoto consente tantos
agravos?
Consentimos em que saíssem mais cedo.
VTD ou VTI, com a prep. por:
Ansiar pode ser VTD ou VTI, com a prep. por.
Ansiamos dias melhores.
Ansiamos por dias melhores.
Almejar pode ser VTD ou VTI, com a prep. por, ou
VTDI, com a prep. a.
Almejamos dias melhores.
Almejamos por dias melhores.
Almejamos dias melhores ao nosso país.
VI ou VTI, com a prep. a:
Faltar, Bastar e Restar podem ser VI ou VTI, com a prep.
a.
Muitos alunos faltaram hoje.
Três homens faltaram ao trabalho hoje.
Resta aos vestibulandos estudar
bastante.
Na última frase apresentada não há erro algum, como à
primeira vista possa parecer. A
tendência é de o aluno concordar o verbo estudar com a palavra
vestibulando, construindo a oração assim: Resta os vestibulandos estudarem.
Porém essa construção está totalmente errada, pois o verbo é transitivo
indireto, portanto resta a alguém. Então vestibulandos funciona como objeto
indireto e não como sujeito. Nenhum verbo concorda com o objeto indireto.
Quando houver, na oração, um verbo transitivo
indireto, com a prep. a, seguido de um substantivo feminino, que exija o artigo
a, ocorrerá o fenômeno denominado crase, que deve ser caracterizado pelo acento
grave (à ou às).
Assisti à peça das meninas do terceiro
colegial.
VI ou VTD
Pisar pode ser VI ou VTD. Quando for VI, admitirá a
prep. em, iniciando Adjunto Adverbial de Lugar.
Pisei a grama para poder entrar em casa.
Não pise no tapete, menino!
 |
Introdução
Neste trabalho abordaremos sobre Substantivo,
quanto ao sua definição, classificação, flexão (gênero, numero e grau,
inclusive com o Plural dos substantivos compostos), Estilo
Definição
1- Alguns exemplos de substantivos:
Teatro, restaurante, farmácia, barbeiro,
cinema, etc.
2
- Nomes de
criaturas reais ou inventadas:
Pedro
Álvares Cabral descobriu o Brasil.
Todos os Anos ele se veste de Papai Noel.
As assombrações
assombram muito pouco e os crimes nas cidades grandes assustam muito mais.
3
- Nomes de objetos e outros seres:
Ou tem chuva
e não tem sol
ou sem sol
e não tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
Quem fica no chão não sobe nos ares.
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
(Cecília Meireles)
4
- Nomes das ações e fatos:
|
No horizonte, o
perigo de
guerra
|
|
O vôo de balão
é
uma aventura ao
sabor do vento
|
Outros
exemplos:
corrida, queda, pancada, carícia.
5
- Nomes dos sentimentos:
amizade, amor, tristeza, ódio, alegria,
simpatia.
6
- Nomes de qualidades das pessoas ou coisas:
|
Violência é
a
pobreza
|
Outros
exemplos:
riqueza, tranqüilidade, feiúra, suavidade,
fraqueza.
Classificação
Os
substantivos podem ser classificados em: próprio, comuns, concretos, abstratos,
simples, compostos, primitivos, derivados, e coletivos.
I
- Substantivos comuns e próprios
|
cidade
s.f. 1: Povoação maior que vila, com muitas casas e edifícios, dispostos em
ruas e avenidas (no Brasil, toda a sede de município é cidade). 2. O centro
de uma cidade (em oposição aos bairros).
|
Qualquer
“povoação maior que vila, com muitas casas e edifícios, dispostos em ruas e
avenidas” será chamada cidade. Isso
significa que a palavra cidade é um substantivo comum.
|
Substantivo
comum é aquele que dá nome ao grupo de seres de uma mesma espécie.
|
Exemplos
de substantivos comuns:
cidade, menino, homem, mulher, país,
cachorro.
|
Estamos voando
para Barcelona
|
O substantivo Barcelona designa apenas um ser da espécie cidade. Esse substantivo
é próprio.
|
Substantivo
próprio é aquele que dá nome a um ser entre todos os outros seres da mesma
espécie.
|
Exemplos
de substantivos próprios:
Londres, Paulinho, Pedro, Ivete, Brasil,
Pingo.
II
- Substantivos concretos e abstratos
 |
 |
|
LÂMPADA
|
|
MALA
|
Os
substantivos lâmpada e mala designam seres com existência
própria e independente de outros seres. São substantivos concretos.
|
Substantivo
concreto é aquele que designa o ser que existe independentemente de outros
seres.
|
Os substantivos concretos designam seres do
mundo real e do mundo imaginário.
Seres do mundo real: homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília etc.
Seres do mundo imaginário: saci,
mãe-d-água, fantasma etc.
Observe
agora:
|
Beleza exposta
Jovens atrizes
veteranas destacam-se pelo visual
|
· O
substantivo beleza designa uma
qualidade.
|
Substantivo
abstrato é aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar
ou existir.
|
· Pense
bem: a beleza não existe por si só, não pode ser observada. Só podemos observar
a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. A beleza depende de outro ser para
se manifestar. Portanto, a palavra beleza
é um substantivo abstrato.
III
- Substantivos simples e compostos
|
Chuva subst. Fem. 1 - água caindo em gotas sobre a
terra
|
Substantivo chuva é formado de um único elemento. É um substantivo simples.
|
Substantivo
simples é aquele formado por um único elemento.
|
Outros substantivos simples: tempo, sol
sofá.
Veja
agora:
O
substantivo guarda-chuva é formado de
dois elementos (guarda + chuva). Esse substantivo é composto.
|
Substantivo composto é aquele formado por
dois ou mais elementos.
|
IV
- Substantivos primitivos de derivados
Meu limão meu limoeiro,
meu pé de jacarandá...
Substantivo limão é primitivo,
porque não se formou de nenhum outro dentro de língua portuguesa.
|
Substantivo primitivo é aquele que não
deriva de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa.
|
Substantivo limoeiro é derivado, porque se formou a partir do substantivo limão.
|
Substantivo derivado é aquele que se origina
de outra pessoa.
|
V
- Substantivos coletivos
|
Ele vinha pela estrada e foi
picado uma abelha, outra abelha, mais outra abelha...
|
|
Ele vinha pela estrada e foi
picado por várias abelhas.
|
|
Ele vinha pela estrada e foi
picado por um enxame.
|
Nome
que, no primeiro caso, para indicar plural, foi necessário repetir o
substantivo: uma abelha, outra abelha, mais outra abelha...
No
segundo caso, utilizaram-se duas palavras no plural.
No
terceiro caso, empregou-se um substantivo no singular (enxame) para designar um
conjunto de seres da mesma espécie (abelhas).
Substantivo
enxame é um substantivo coletivo.
|
Substantivo coletivo é o substantivo comum
que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma
espécie.
|
Flexão
Os substantivos podem variar em gênero,
número e grau.
I
- Gênero
Pertencem ao gênero masculino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o,
os, um, uns. Veja estes títulos de filmes:
O
velho e o mar
Um
Natal inesquecível
Os
reis da praia
Pertencem ao g6enero feminino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a,
as, uma, umas:
A
história sem fim
Uma
cidade sem passado
As
tartarugas ninjas
Substantivos
biformes e substantivos uniformes
Substantivos
biformes são aqueles que apresentam
duas formas para indicar o gênero dos ser a que dão nome: uma forma para o
masculino e uma forma diferente para o feminino.
gato - gata homem
- mulher
cantor - cantora prefeito -
prefeita
Substantivos
uniformes são aqueles que apresentam
uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino.
zebra
estudante
pianista
indivíduo
1
- Formação de feminino dos substantivos biformes
a
- Regra geral: Troca-se a terminação -o por -a:
aluno - aluna
b
- Substantivos terminados em -ês: acrescenta-se -a ao
masculino
freguês - freguesa
c
- Substantivos terminados em -ão: Fazem o feminino de três formas:
troca-se -ão por -ao: patrão -
patroa
troca-se -ão por -ã: campeão -
campeã
troca-se -ão por ona: solteirão -
solteirona
Exceções:
barão - baronesa
ladrão - ladra
sultão - sultana
etc.
D
- Substantivos terminados em -or:
acrescenta-se -a ao masculino:
doutor - doutora
troca-se -or por -triz:
imperador - imperatriz
E
- Substantivos com feminino em -esa, -essa, -isa:
-esa -essa isa
cônsul - cosulesa abade - abadessa poeta - poetisa
duque - duquesa conde - condessa profeta - profetisa
F
- Substantivos que formam o feminino trocando o -e final por -a:
elefante - elefanta
G
- Substantivos que têm radicais diferentes no
masculino e no feminino:
bode - cabra
boi - vaca
H
- Substantivos que formam o feminino de maneira
especial, isto é, não seguem nenhuma das regras anteriores:
czar - czarina
réu - ré
2
- Formação do feminino dos substantivos uniformes
a
- Comuns de dois gêneros:
|
Motorista tem
acidente idêntico 23 anos depois
|
Quem
sofreu o acidente: um homem ou uma mulher?
É
impossível saber apenas pelo título da notícia, pois a palavra motorista é um substantivo uniforme. O
restante da notícia nos informa que se trata de um homem.
Outros exemplos de substantivos comuns de
dois gêneros:
o colega - a colega
o imigrante - a imigrante
o jovem - a jovem
b
- Sobrecomuns:
|
Entregue as
crianças à natureza
|
A
palavra crianças refere-se tanto a
seres do sexo masculino quanto a seres do sexo feminino.
Nesse
caso, nem o artigo nem um possível adjetivo permitem identificar o sexo dos
seres a que se refere a palavra. Veja:
A criança chorona chamava-se João.
A criança chorona chamava-se Maria.
Outros substantivos sobrecomuns:
a criatura - João é uma boa criatura.
Maria é uma boa criatura.
o cônjuge - O cônjuge de João faleceu.
O
cônjuge de Marcela faleceu.
C
- Epicenos:
Observe:
|
Novo
jacaré escapa de policiais no rio Pinheiros
|
Não
é possível saber o sexo do jacaré em questão. Isso ocorre porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar
o masculino e o feminino.
Alguns
nomes de animais apresentam uma só forma para designar os dois sexos. Esses
substantivos são chamados de epicenos.
No caso dos epicenos, quando houver a necessidade de especificar o sexo,
utilizam-se palavras macho e fêmea.
a cobra - A cobra macho picou o marinheiro.
A cobra fêmea escondeu-se na
bananeira.
Substantivos
que mudam de sentido de acordo com gênero
Veja:
|
INVISTA SEU CAPITAL
NO CENTRO DA CAPITAL
DINHEIRO
CIDADE PRINCIPAL
|
o capital (dinheiro) a capital (cidade
principal)
o caixa (pessoa) a caixa (objeto)
o grama (unidade de massa) a grama (relva)
II
- Número
Os substantivos podem estar no singular ou no plural.
Estão no singular quando indicam:
1
- um só ser de uma espécie:
Li um livro
interessante.
2
- um só conjunto de seres de uma espécie
(coletivos):
Naquela biblioteca só há romances policiais!
Estão no plural quando indicam:
1
- mais de um ser de mesma espécie:
Li alguns livros interessantes.
2
- mais de um conjunto de seres de mesma espécie
(coletivos):
Aquelas bibliotecas estão precisando de reforma.
Formação
do plural
1- Plural dos substantivos
simples:
Lembre-se de que são simples os
substantivos que têm um só elemento.
a
- Regra geral: acrescenta-se s ao singular:
lata - latas
b- Substantivos
terminados em -ão:
Fazem o plural de três formas:
substituindo o -ão por -ões:
ação - ações
substituindo o -ão por -ães:
cão - cães
substituindo o -ão por -ãos:
grão - grãos
c
- Substantivos terminados em r, z:
Acrescenta-se -es ao singular:
açúcar - açúcares
radar - radares
d
- Substantivos terminados em s:
Acrescenta-se -es ao singular, quando o substantivo for oxitono:
ananás - ananases
mês - meses
e
- Substantivos terminados em x:
São invaráveis:
o tórax - os tórax
o telex - os telex
f
- Substantivos terminados em -al, -el, -ol, -ul:
Substitui-se o -l por -is:
canal - canais
animal - animais
g
- Substantivos terminados em -il:
Quando o substantivo for oxítono,
substitui-se o -l por -s:
canil - canis
barril - barris
Quando o substantivo for paroxítono,
substitui-se o -l por -eis:
fóssil - fosseis
réptil - repteis
h
- Plural metafônico:
Alguns
substantivos apresentam a seguinte diferença de pronúncia: no singular, o o Tônico é fechado (ô) e no plural o
som do o o é aberto (ó).
O
plural desses substantivos é conhecido como plural metafônico.
Singular
(ô) Plural (ó)
caroço
caroços
coro
coros
corpo
corpos
fogo
fogos
i
- Substantivos que se empregam apenas no plural;
espadas/paus (naipes de baralho)
fezes
j
- Mudança de número com mudança de sentido:
Alguns substantivos têm um sentido no
singular e outro do plural:
l
- Plural do nomes próprios:
Os nomes próprios fazem o plural de acordo
com as regras dos substantivos comuns:
Os Maias
Os Almeidas
Os Silvas
m
- Plural dos nomes de letras:
Também fazem o plural de acordo com as
regras dos demais substantivos comuns:
Vamos pôr os pingos no is.
Os dês, os efes, e os agás, que você rabiscou estão ilegíveis.
n
- Plural dos nomes de números:
Também fazem o plural como as demais
substantivos comuns:
Os
dozes que você escreveu estão feios.
No número 3333 há quatro três.
Ela sempre acerta os finais vintes na loteria.
o
- Plural de siglas:
Algumas siglas passam a funcionar como
verdadeiros substantivos, admitindo flexão de número:
Aqueles PMs tentaram socorrer a pobre mulher. (Policiais Militares)
Note que o s indicativo de plural é minúsculo.
2
- Plural dos substantivos compostos:
Lembre-se de que são compostos os
substantivos formados por dois ou mais elementos, escritos numa só palavra ou
separados por hífen.
a
- Quando os elementos componentes do substantivo não
são separados, o substantivo composto segue as mesmas regras do substantivo
simples.
passatempo - passatempos
pontapé - pontapés
b
- Quando os elementos componentes do substantivo são separados por hífen, temos
que classificar esses elementos para formar o plural.
Regra geral: quando não houver preposição
entre os elementos que compõem o substantivo, vão para o plural o elementos que
pertencem à classe dos substantivos, adjetivos, numerais, pronomes. Veja:
amor-perfeito
O substantivo é formado da palavras amor
(substantivo) e perfeito (adjetivo). Não há preposição entre os dois elementos.
Portanto, no plural variam os dois elementos:
amores- perfeitos.
Veja agora:
guarda-chuva - guarda>verbo
chuva>substantivo
Só varia o substantivo. Portanto, no plural
temos guardas-chuvas.
Observe:
bota-fora - bota>verbo (botar)
fora>adverbio
Nenhum dos elementos varia: os bota-fora.
Regras
especiais
1
- Só vai para o plural o primeiro elemento quando o
substantivo é composto de dois substantivos e o segundo funciona como uma espécie
de adjetivo do primeiro. Veja:
caneta-tinteiro
A palavra tinteiro funciona como uma espécie de adjetivo, pois especifica a
palavra caneta. Portanto, no plural: canetas-tinteiro.
cavalo-vapor cavalos-vapor
manga-espada mangas-espada
pombo-correio pombos-correio
Ele cedeu todo o espaço para outros quatros
homens-chave do esquema.
2
- Só vai o plural o primeiro termo quando as
palavras que compõem o substantivo são ligadas por uma preposição (de, a sem):
mula-sem-cabeça mulas-sem-cabeça
pão-de-ló pães-de-ló
Estão sempre cercados por um exército de anjos-da-guarda.
3
- Só vai para o plural o último elemento quando o
substantivo for composto de palavras repetidas ou palavras que imitam algum
tipo de som.
reco-reco reco-recos
tique-taque tique-taques
... os atrasos desembocam em violentos quebra-quebras.
III
- Grau
1
- Normal - Refere-se a um ser de tamanho considerado
normal: casa, menino, copo.
2
- Diminutivo - Refere-se a um ser de tamanho considerado
baixo do normal: casinha, menininho, copinho.
3
- Aumentativo - refere-se a um ser de tamanho considerado
acima do normal: casarão, meninão, copão.
Formação
do Grau
Nos substantivos, pode-se expressar o grau
de duas formas:
1
- Forma analítica: o substantivo fica na
sua forma normal; o grau expressa-se através de adjetivos que indicam aumento
ou diminuição.
normal aumentativo analítico diminutivo analítico
nariz nariz grande nariz pequeno
nariz imenso nariz minúsculo
2
- Forma sintética: muda-se a forma do
substantivo, acrescentando-se sufixos ao substantivo no grau normal.
normal
aumentativo sintético
diminutivo sintético
nariz narigão narizinho
boca bocarra boquinha
Estilo
1
- Alguns diminutivos e aumentativos podem exprimir
carinho, ternura, intimidade, e não tamanho. Nesse caso, são considerados diminutivos e aumentativos afetivos.
Ex: Meu amorzinho me empresta R$50,00.
2
- Muitas vezes empregamos os graus aumentativo ou
diminutivo para indicar desprezo, ironia, pouco-caso.
... entrou para a História como um ditadorzinho de sejunda.
Morfossintaxe
Uma
oração é normalmente formada por sujeito e predicado. No predicado, localiza-se
o verbo. O termo da oração que com ele concorda é o sujeito, cujo núcleo é
sempre um substantivo.
Nesta
oraçào sem sujeito, não se observa a presença do substantivo.
A
existência
A
beleza
A
amizade
é frágil.
A
carne
O amor
O
silêncio
Nesta oração, cujo predicado é nominal, o
substantivo é núcleo do sujeito.
Homens
Moços
Rapazes pedem carinho a
mulheres.
Crianças
Tigres
Nesta oração, cujo predicado é verbal, o
substantivo é núcleo do sujeito.
Moças
Crianças consideram
homens inconstantes.
Animais
Poetas
Nesta oração, cujo predicado é
verbo-nominal, o substantivo é núcleo do sujeito.
Assim, você percebeu que a função sujeito é uma função substantiva, ou seja, o papel de sujeito nas orações é
exercido pelo substantivo. O sujeito é ao lado do predicado, um dos termos
essenciais da oração.
Você deve ter notado que, além dos
substantivos que exercem função de sujeito nas orações acima, ainda há outros
que se relacionam com os verbos. Veja outro exemplo:
carinho mulheres.
compreensão
amigos.
Homens pedem afeto a companheiras.
amizade cúmplices.
ternura crianças
Esses
substantivos complementam os verbos a que se ligam: são chamados, pois complementos verbais. Os que se ligam
ao verbo por intermédio de uma preposição (no exemplo acima, a preposição a)
são chamados objetos indiretos; os
que se ligam diretamente ao verbo, sem preposição intermediária, são chamados objetos diretos. As funções de objeto
direto e indireto também são funções dos substantivos na oração.
No
exemplo abaixo, os substantivos entre as barras estão exercendo a função de
objeto direto:
homens
Mulheres consideram moços inconstantes
rapazes
crianças
Se passarmos essa oração para a voz
passiva, abteremos:
mulheres
companheiras
Homens
são considerados inconstantes pelas cúmplices
crianças
mães
Lembre-se
de que na voz passiva o sujeito (no caso, homens)
sofre a ação verbal sendo chamado sujeito paciente . O termo que indica o
praticamente da ação na voz passiva (no caso, mulheres/companheiras/cúmplices/crianças/mães) é chamado agente da passiva. Essa é, como você
pode observar, outra função substantiva
na oração.
Façamos,
agora, uma pequena modificação num exemplo já analisado na página anterior:
compreensão
Homens fazem pedido de afeto a mulheres
amizade
ternura
A
alteração consistiu em substituir pedem por fazem pedido. Do mesmo modo que o
verbo pedir era acompanhado por
complementos, o substantivo pedido tem
seu sentido complementado por outros substantivos (entre barras, no exemplo0,
que exercem a função de complemento
nominal. É fácil perceber que se trata de mais uma função substantiva na oração.
As
funções de complemento nominal e
complemento verbal (objeto direto e indireto) integram o significado de um nome
ou de um verbo. Por essa razão, esses termos são chamados integrantes, e sua
presença na oração é fundamental para que nomes e verbos adquiram significado
plena.
Veja
agora o exemplo abaixo:
canção
criação
A existência é combate
poesia
beleza
Temos
uma oração cujo predicado é nominal. Sabemos que o verbo não é o núcleo desse
tipo de predicado, sendo tal papel exercido pelo nome que o acompanha: o predicativo. Esta é, portanto, outra função substantiva. Neste caso, porém,
não se trata de uma função exclusivamente substantiva, pois, como veremos mais
adiante, também os adjetivos podem exercê-la.
criaturas
seres
Homens, poetas inconstantes, pedem carinho a
mulheres
artistas
mendigos
Introduzimos
nessa oração um termo que se refere ao sujeito homens, especificando-o, elucidando-o, qualificando. Observe que
esse termo é equivalente sintaticamente ao sujeito (retirando o sujeito da
oração, você verá que criaturas/seres/poetas/artistas/mendigos
inconstantes passa a exercer essa função). O mesmo ocorre em:
criaturas
Homens pedem carinho a mulheres, seres inconstantes
companheiras
Só
que agora esse termo especifica, elucida, qualifica o objeto indireto mulheres e eqüivale, sintaticamente, a
ele.
Ora,
o núcleo (palavra central) dos termos analisados é um substantivo, fato que nos
leva a concluir que se trata de mais uma função
substantiva. Neste caso, estamos analisando o aposto, termo acessório da oração, pois sua ausência não compromete
a significação da mesma.
Finalmente,
analisemos este exemplo também levemente modificado:
Pedro,
Maria,
Vanessa,
Elisa, homens
pedem carinho a mulheres,
Teresa,
Luís,
Zósimo,
Temos agora um substantivo próprio que
indica o ser a quem dirigimos a palavra. Esse substantivo exerce a função de vocativo. Desnecessário dizer que se
trata de mais uma função substantiva
na oração.
Palavra variável que traduz um fato.
Elemento principal da oração, apresenta grande número de formas para expressar
a pessoa, o tempo, o modo e a voz do discurso.
Verbo
Verbo
Elemento principal da oração, o verbo
exprime processos, ações, estados ou fenômenos e, por meio da ampla variedade
de formas em que se apresenta, indica em português a pessoa, o tempo, o modo e
a voz do discurso. Assim, muitas informações significativas estão nele
reunidas.
Verbo é toda palavra ou expressão que
traduz um fato. A frase "As crianças amam o campo" enuncia um fato
observado a respeito de "crianças" e de "campo". A palavra
que descreve esse fato é "amam", forma conjugada do verbo amar.
Quanto ao complemento na oração, os verbos são intransitivos, quando expressam
uma idéia completa (andei), ou transitivos, quando exigem continuação (perdi o
sapato, fui ao dentista). Quanto ao sujeito, os verbos podem ser tripessoais,
unipessoais ou impessoais, segundo se empreguem nas três pessoas, apenas nas
terceiras pessoas ou somente na terceira do singular. Latir é unipessoal, pois
não se usa nem na primeira nem na segunda pessoa. Ventar é impessoal, uma vez
que, sem sujeito, fica na terceira pessoa do singular.
Informações expressas pelo verbo. O sujeito
da oração é sempre indicado pelo verbo, que aparece numa das três pessoas: a
primeira, que fala; a segunda, com quem se fala; e a terceira, de quem se fala.
O verbo concorda com o sujeito em número,
que pode ser singular ou plural. Pessoa e número têm desinências particulares.
Assim, primeira pessoa: amei, amamos; segunda pessoa: amaste, amastes; terceira
pessoa: amou, amaram.
Os verbos denotam ainda as circunstâncias
temporais em que se realizam os fatos: presente (amo), passado (amei) e futuro
(amarei). Quando se referem dois fatos não concomitantes -- passados, presentes
ou futuros -- o verbo pode ainda exprimir anterioridade (tenho amado; tinha
amado, ou amara; e terei amado) ou posterioridade (tenho de amar, tive de amar,
terei de amar). Servem de exemplo as frases: "Quando ele me contou a
história eu já a tinha adivinhado" e "Ele se casará em dezembro e
logo depois terá de partir, em viagem de estudos".
Em português, os verbos apresentam-se em
três modos (indicativo, subjuntivo e imperativo) e três formas nominais
(infinitivo, gerúndio e particípio). O uso dos modos é expressivo e
dificilmente se podem estabelecer princípios gerais. É possível observar,
entretanto, que o subjuntivo é próprio da afirmação insegura, dubitativa. O
imperativo serve para a expressão direta da vontade afirmativa, desde a ordem
até o desejo, mas se dispõe apenas da segunda pessoa; supre-se, nas suas
lacunas, do presente do subjuntivo, como nos versos "Repousa lá no céu
eternamente, / E viva eu cá na terra sempre triste" (Camões).
As formas nominais não permitem a expressão
do tempo ou do modo, que devem ser inferidos pelo contexto da oração. O
infinitivo pode apresentar emprego nominal e servir de substantivo ("Seu
cantar ecoou ao longe"), adjetivo ("Porta de correr") ou
advérbio ("Andou a correr"). O gerúndio descreve ação em curso e pode
assumir função de advérbio ou adjetivo ("Vi o fogo ardendo"). O
particípio, a um tempo verbo e adjetivo, está sujeito à concordância de gênero
e número. Apresenta o resultado de uma ação: cansado, aberto.
Os verbos exprimem ainda aspecto, e no
português isso é bastante complexo. Aspectos são as diferentes maneiras como se
enfocam e expressam os fatos. Aspecto imperfeito é aquele em que não se pensa
no início nem no término do fato: é o aspecto normal do verbo, desde que não
esteja no pretérito perfeito ou no mais-que-perfeito. Aspecto perfeito é aquele
que apresenta o fato como terminado e pode ser observado nos dois tempos
mencionados acima e na conjugação de anterioridade. Aspecto iterativo é o que
tem, na maioria das vezes, o presente do indicativo da conjugação que exprime
anterioridade: tenho escrito quase sempre significa, simultaneamente, que
escrevi e que ainda escrevo. Aspecto progressivo é o da chamada conjugação
contínua, em que se aponta o fato no seu próprio desenvolvimento e processo:
estou escrevendo. Aspecto incoativo é aquele que toma o verbo quando o fato é
revelado no seu começo: entro a escrever, toco a escrever etc. Há, ainda,
outros aspectos em que a língua sutiliza sua expressão.
Os verbos de predicação incompleta, que
pedem objeto direto, admitem duas vozes: a voz ativa, que é a normal da
conjugação simples ("O cão mordeu a criança"), e a voz passiva,
pertencente à conjugação composta, cujo sujeito é o termo da oração que
naturalmente seria seu objeto ("A criança foi mordida pelo cão").
Isso permite enfatizar a importância de um termo que ficaria em segundo plano,
caso ocupasse a função de objeto, e não de sujeito. A conjugação pronominal
reflexiva ("Mordeu-se") é definida por alguns autores como voz média.
Morfologia verbal. Como se não bastasse
essa complexidade, o verbo tem, no português, uma morfologia (aspecto que diz
respeito à estrutura e formação das palavras) muito rica. Tal riqueza é herdada
do latim nas formas simples e extremamente desenvolvida nas formas compostas.
Para o estudo da morfologia verbal, os antigos tinham imaginado a conjugação
das formas simples em quadros engenhosamente organizados, a que chamaram
paradigmas. No português, como no castelhano e no galego, as quatro conjugações
paradigmáticas se reduziram a três: primeira, que tem como vogal de ligação um
-a- (am-a-r, cant-a-r); segunda, que tem um -e- (dev-e-r, mo-e-r); e terceira,
que tem um -i- (part-i-r, un-i-r). Por esses modelos se orientam todos os
outros verbos, chamados regulares.
Muitos, porém, são os verbos irregulares.
Os de irregularidade fraca diferenciam-se dos paradigmas nos tempos presentes
ou no particípio (odiar, valer, abrir estão nesse caso, porque fazem odeio,
valho, aberto, em lugar de odio, valo, abrido). Os de irregularidade fonética
fogem às regras de mutação vocálica (chegar e invejar, por exemplo, seriam
regulares se fizessem chégo e invêjo, como rego e desejo). Os 17 verbos de
irregularidade forte (dar, ir, ser, pôr, ter, ver, vir, caber, dizer, estar,
fazer, haver, poder, aprazer, querer, saber, trazer) não seguem qualquer
paradigma e apresentam peculiaridades em quase todos os tempos. Ao contrário de
todos os outros, apresentam dois radicais. São rizotônicos na primeira e
terceira pessoas do pretérito perfeito do indicativo; ir e ser chegam a ter
três raízes. Alguns são abundantes ou defectivos de pessoas (presenciar admite
presencio ou presenceio na primeira pessoa do singular, enquanto precaver, no
presente do indicativo, só se conjuga na primeira e segunda pessoas do plural
-- precavemos e precaveis --, além de ser totalmente destituído de presente do
subjuntivo).
Verbos relacionais. Nas orações ditas
nominais, o verbo assume outro papel: o de indicar que, entre o sujeito e o
predicativo, existem relações constantes (ser), novas ou inconstantes (estar),
ou ainda uma mudança de estado (ficar). Assim, por exemplo: o menino é forte; o
menino está forte; o menino fica forte. Entre as grandes línguas européias, só
o português se empenha em distinguir essas três relações com tais verbos, além
de outros, eventualmente.
Os verbos relacionais ou de ligação revelam
o aspecto que se dá à definição do sujeito: são esvaziados de sua idéia
original e, por isso, não têm conteúdo ideativo, com o que deixam, por definição,
de ser verbos. São verbos apenas pela sua morfologia. Ser, estar e ficar são
verbos como quaisquer outros, desde que não estejam relacionando o sujeito com
o predicativo, como em "No princípio era o caos", "Meu irmão
está em Paris", "Não pude ficar em casa". Nestes casos, poderiam
ser trocados por existia, mora e permanecer. Na oração "Hoje não ando
bem" o verbo é ideativo se ando for sinônimo de marcho, caminho. Contudo,
se ando bem for equivalente a estou bem, tem-se um verbo relacional, que não
exprime fato nenhum e se limita a indicar o aspecto da definição. Em tais
casos, somente o contexto pode decidir sobre a interpretação conveniente.
Verbos auxiliares. As conjugações compostas
valem-se dos chamados verbos auxiliares, que exprimem pessoa, número, tempo e
modo. Juntam-se a infinitivos, gerúndios e particípios ideativos e sua
morfologia é a dos verbos, categoria a que, por definição, não pertenceriam.
A língua portuguesa é riquíssima em verbos
auxiliares, com os quais são expressos aspectos e a voz passiva. Os principais
são: (1) ter, haver, para a conjugação anterior (ter feito, haver feito); (2)
ter de, haver de, ir, dever, querer, poder, para a conjugação posterior (ter de
fazer, haver de fazer, ir fazer, dever fazer, querer fazer, poder fazer); (3)
estar, ir, vir, andar, para a conjugação contínua (estar fazendo, ir fazendo,
vir fazendo, andar fazendo); (4) ser, para a conjugação passiva (ser feito).
Verbos pronominais. O acompanhamento
obrigatório de pronomes átonos reflexivos caracteriza os verbos pronominais,
como queixar-se e arrepender-se. Alguns são pronominais apenas em determinada
acepção, como chamar, chamar-se.
Alguns verbos, embora apresentem a forma
passiva, não exprimem passividade alguma. São os chamados verbos depoentes,
entre os quais estão certos verbos de movimento, como chegar, correr, descer,
entrar, fugir, ir, partir, passar, sair, subir, vir. O mesmo ocorre com nascer
e morrer (entrar na vida e dela sair). Exemplos: "Era chegada a hora de
jantar", ou seja, tinha chegado; "Meu pai é morto há longos
anos", isto é, morreu.
Verbo auxiliar.
Denominação do verbo que, nos tempos
compostos, se antepõe ao principal e exprime pessoa, número, tempo e modo.
Verbo de ligação
Termo que designa, em gramática, o verbo
que não indica ação, mas estado, qualidade ou condição do sujeito.
Verbo depoente
Designação do verbo que, embora apresente a
forma passiva, não exprime passividade, dentre os quais se incluem verbos de
movimento.
verbo Intransitivo
Nome dado ao tipo de verbo cuja predicação
expressa uma idéia completa e que não exige complemento.
Verbo irregular
Denominação do verbo que não segue o
paradigma de sua conjugação, afasta-se de sua forma básica em determinadas
flexões, com desvios no radical, na vogal temática ou nas desinências.
Verbo iterativo
Termo que designa o aspecto do verbo que
exprime anterioridade ou ação repetida ou freqüente.
verbo Transitivo
Termo que designa, em gramática, o verbo
que não tem sentido completo e precisa de um complemento.
verbo Transitivo direto
Termo que designa, em gramática, o verbo
que tem o sentido completado por um objeto ligado a ele diretamente, sem
preposição.
verbo Transitivo indireto
Termo que designa, em gramática, o verbo
que tem o sentido completado por um objeto ligado a ele por meio de uma
preposição.
































.jpg)